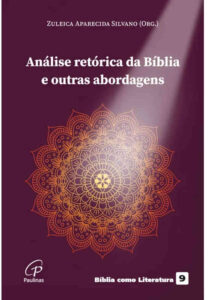O que a descoberta da Assíria por Layard significava para a compreensão da Bíblia?
O capítulo 18 do livro de Mogens Trolle Larsen, The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land, 1840-1860. New York: Routledge, [1996] 2016, tem por título “Profundezas do tempo” [Depths of Time] e aborda o impacto das escavações assírias feitas por Austen Henry Layard no mundo intelectual e religioso inglês do século XIX.
Veja uma apresentação do livro no post A escavação arqueológica da Assíria, publicado no Observatório Bíblico em 17.08.2024. O capítulo 18, Depths of Time, pode serlido na íntegra, em inglês, clicando aqui.![LARSEN, M. T. The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land, 1840-1860. New York: Routledge, [1996] 2016, 424 p. LARSEN, M. T. The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land, 1840-1860. New York: Routledge, [1996] 2016, 424 p.](https://airtonjo.com/blog1/wp-content/uploads/2024/08/mtlarsen-1-212x300.jpg)
Só podemos apreciar verdadeiramente o trabalho de Layard quando o colocamos no contexto de seu próprio mundo intelectual e religioso, a Inglaterra contemporânea, à qual ele dirigiu seu livro [Nineveh and its remains. John Murray, London, 2 vols, 1849].
Grandes mudanças ocorreram desde que ele deixara o país em 1839. A Inglaterra na alta era vitoriana agora parece para a maioria das pessoas marcada por uma respeitabilidade burguesa presunçosa e hipócrita que era caracterizada por uma aceitação plácida de estreitas normas e regras morais , mas logo abaixo da embelezada superfície havia fortes conflitos.
Incerteza e mudança não eram características apenas da vida social e política; os debates culturais e religiosos refletiam uma profunda convulsão nos padrões tradicionais. A intensidade envolvida nessas controvérsias era em parte devido ao fato de que os círculos religiosos ortodoxos tinham um controle muito sólido e determinado sobre o poder no país. Assuntos religiosos estavam entre os assuntos mais amplamente e acaloradamente debatidos nas revistas e livros da época , e fortes tensões existiam entre novas ideias e o clero enormemente bem estabelecido e fortemente tradicional.
Um dos exemplos mais claros dessa tensão diz respeito à questão do tempo e da cronologia. Em 1650, o arcebispo James Ussher publicou uma tese estabelecendo uma cronologia precisa para todos os eventos mencionados na Bíblia , o que para os estudiosos da época significava toda a história do mundo , desde a Criação até os dias atuais. Esse cálculo aprendido ganhou um enorme prestígio e se tornou a base para o entendimento comum de toda a história, e ainda estava sendo mantido na Inglaterra de meados do século XIX. Uma das conclusões mais importantes de Ussher foi que o mundo foi criado no ano 4004 a.C., de modo que toda a história do globo tinha que ser contida em um período de cerca de 6.000 anos. Ele também pode revelar que a Assíria foi fundada em 1770 a.C., cento e quatorze anos após o grande Dilúvio.
Não é fácil aceitar que pessoas inteligentes e bem informadas pudessem ficar satisfeitas com este esquema, mesmo em 1848, e houve, naturalmente, muitos que, em privado, e alguns publicamente, questionaram essa ortodoxia. A maioria dos livros e artigos que entraram em contato com o problema simplesmente evitaram um confronto direto e contornaram a argumentação aberta. Por outro lado, para entender os debates da época, é preciso perceber que muitas das ideias e muito do entendimento que eventualmente causaram o colapso do velho paradigma eram relativamente novos .
Não podemos deixar de ficar surpresos quando nos deparamos com pessoas inteligentes do século XX que mantêm um fundamentalismo bíblico, alegando que cada palavra da Bíblia deriva diretamente de Deus e é incondicionalmente verdadeira; mas a situação era diferente no século XIX e os desafios ao literalismo ingênuo estavam apenas começando a ganhar força na Inglaterra por volta de 1850.
Esses desafios vieram de diferentes direções, de várias disciplinas científicas e, de fato, principalmente da Alemanha e da França. A Inglaterra era um país profundamente conservador, onde a igreja anglicana mantinha uma influência dominante. Somente membros da igreja podiam estudar nas universidades de Cambridge ou Oxford, e somente após terem assinado os famosos ’39 Artigos’, um documento que estabelecia os dogmas centrais da fé anglicana. O University College em Londres foi criado em 1826 como uma alternativa ‘não conformista’ a essas antigas universidades, e até aquela data a Universidade de Edimburgo era o único lugar onde se podia estudar sem ter que aceitar os dogmas da igreja anglicana.
Mesmo um campo de aprendizado aparentemente inócuo e pacífico como a arqueologia pré-histórica continha explosivos intelectuais. Ossos humanos encontrados na França e outros lugares em camadas profundas, juntamente com ferramentas de sílex extremamente primitivas e restos de animais, que claramente pertenciam a raças agora extintas, precisavam de explicação. Em algumas cavernas, ossos foram descobertos selados sob espessas camadas de sedimentos, que claramente foram formados por água infiltrando-se no solo e pingando do teto da caverna – obviamente por períodos de tempo extremamente longos. Tais descobertas pareciam indicar que o homem existiu durante períodos de tempo muito mais longos do que o
permitido pelo esquema tradicional de cronologia. A explicação ortodoxa , mantida por um grande número de estudiosos britânicos, consistia em uma combinação de interpretação da Bíblia e falta de fé nos resultados e observações dos escavadores. Em casos embaraçosos , poder-se-ia falar de tipos de animais que foram exterminados pelo dilúvio, por algum motivo não tendo sido salvos pela arca; e dos restos mortais de vítimas humanas daquele evento cataclísmico levados para essas cavernas (Grayson 1983).
A geologia teve um impacto ainda maior em muitos dos intelectuais da época, e há , é claro, conexões estreitas entre essas disciplinas. Os geólogos poderiam apontar para mais e mais observações que mostravam que o planeta tinha vivido uma longa e complexa história. Conchas marinhas descobertas no alto dos Andes na América Latina – como visto por Darwin em sua viagem ao redor do mundo – mostraram que esta terra tinha sido criada por forças enormes, que tinham levantado antigos leitos marinhos milhares de metros para se tornarem picos de montanhas. Tais observações não podiam ser explicadas ou acomodadas ao esquema do bispo Ussher, simplesmente não havia tempo suficiente.
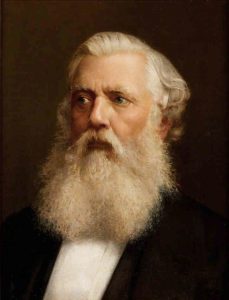 O amigo de Darwin, o famoso geólogo Charles Lyell, tinha fornecido sua famosa “teoria da atualidade” que postulava que os processos geológicos que agora podem ser observados no mundo têm que formar a base para nossa compreensão da história da Terra, que os mesmos processos e forças geológicos têm sido ativos ao longo de sua existência. Lyell mostrou que o planeta que vemos foi criado por milhões de anos de atividade geológica, não em um único dia por um ato divino de criação, mas isso
O amigo de Darwin, o famoso geólogo Charles Lyell, tinha fornecido sua famosa “teoria da atualidade” que postulava que os processos geológicos que agora podem ser observados no mundo têm que formar a base para nossa compreensão da história da Terra, que os mesmos processos e forças geológicos têm sido ativos ao longo de sua existência. Lyell mostrou que o planeta que vemos foi criado por milhões de anos de atividade geológica, não em um único dia por um ato divino de criação, mas isso
não significava necessariamente que a história humana tinha que ser vista da mesma forma. Parecia possível para alguns aceitar a verdade literal do relato bíblico começando com a criação de Adão e Eva. Na verdade, Lyell não aceitou as descobertas dos pré-historiadores até 1863, quando ele finalmente, e com alguma hesitação, reconheceu que também a humanidade tinha uma história muito mais longa do que a postulada pela Bíblia. Darwin nunca conseguiu persuadi -lo de que suas próprias teorias sobre o desenvolvimento biológico estavam corretas (Desmond e Moore 1992).
O ensaísta e historiador da arte John Ruskin é um bom exemplo do dilema sentido por muitos intelectuais da época. Quando ele teve sua experiência de “não conversão” em Turim em 1858, que o levou a descartar suas crenças evangélicas, esta foi, em suas próprias palavras , a conclusão de “cursos de pensamento que me levaram a tal fim por muitos anos” (Kemp 1990: 261-2). A fundação tradicional herdada de seus pais cedeu, e ele reclamou da “fragilidade” de sua própria fé religiosa, culpando as novas ciências: “Se ao menos os geólogos me deixassem em paz, eu poderia me sair muito bem, mas aqueles martelos horríveis! Eu ouço o retinir deles no final de cada cadência dos versículos da Bíblia ” (Abrams 1986: 924).
Apesar de tal dor pessoal sentida na Inglaterra, muitos no continente sentiram que o debate britânico era caracterizado por um conservadorismo exasperante; em 1834, um geólogo francês escreveu esta crítica devastadora aos seus colegas britânicos:
“Certos teólogos ingleses persistem ridiculamente em sua mania de querer fazer os resultados da geologia concordarem com o Gênesis. A Inglaterra está tão impregnada do espírito de seita que todos são obrigados, pela força ou pela vontade, a se inscrever sob uma bandeira religiosa; de tal forma que, em meio às maravilhas da indústria e de uma civilização avançada, as mentes mais elevadas estão muitas vezes atoladas em disputas teológicas que lembram a Idade Média, e das quais a Europa continental não oferece mais do que raros exemplos” (Grayson 1983: 112).
O poeta alemão Heinrich Heine visitou Londres em 1830 e observou com seu habitual humor ácido que, enquanto até o inglês mais estúpido conseguia encontrar algo sensato para dizer sobre política, nada além de estupidez vinha até mesmo do mais inteligente quando o assunto era assuntos religiosos (Holthof 1899: 452).
Nesse clima de ortodoxia arraigada, foi a Biologia e a teoria da evolução que, no final, tiveram uma influência decisiva no debate intelectual, levando, em última instância, a uma libertação do dogmatismo restritivo. No entanto, é uma indicação do poder do conservadorismo que Darwin, que de forma alguma desejava ser equiparado por seus pares sociais aos radicais não conformistas raivosos, não ousou publicar suas ideias até 1859 no livro A Origem das Espécies, e então fortemente motivado pelo perigo de ser ultrapassado por um acadêmico rival com ideias semelhantes (Desmond e Moore 1992).
As pressões sociais eram imensas, e havia uma clara tendência a considerar o radicalismo científico e político como dois lados da mesma moeda. As novas ideias desafiavam a ortodoxia religiosa, que por sua vez era vista como a base para a ordem social como um todo, então era com um perigo muito real de perder a respeitabilidade social e o status que alguém defendia teorias acadêmicas novas e radicais.
Ao estabelecer a fundação para uma nova compreensão do mundo, ciências como Geologia, Astronomia e Biologia criaram, ou pelo menos exacerbaram, uma crise moral e intelectual. Para muitos , a mensagem básica das ciências naturais parecia consistir em uma perda para a humanidade de seu lugar central na ordem do mundo, de fato, seu propósito e dignidade. Com o colapso da explicação cristã tradicional do mundo físico, a estrutura clara e simples para a história do homem e a explicação de seu papel desapareceram. Tudo isso foi substituído por leis da natureza e abstrações.
(…)
Até mesmo a própria fundação do cristianismo, a própria Bíblia Sagrada , tornou-se o assunto de pesquisa acadêmica, e a disciplina que se desenvolveu a partir de tais estudos, a Alta Crítica [Higher Criticism = o estudo das origens históricas, as datas e autoria dos vários livros da Bíblia], era por sua própria natureza um ramo “perigoso” dos estudos acadêmicos cujos resultados e teorias eram vistos por muitos com grande consternação e rejeição indignada. Essa tradição de pesquisa de crítica literária, que com base em uma análise textual detalhada chegou a conclusões sobre a natureza complexa, composta e muitas vezes bastante desconectada e incoerente do texto bíblico, desenvolveu-se primeiro na Alemanha. Dali , espalhou-se lentamente para a Inglaterra, onde ganhou real importância na década de 1850, e chegou aos Estados Unidos na década de 1880.
Análises literárias desse tipo foram aplicadas com grande sucesso em outros textos quase sagrados, como a Odisseia e a Ilíada, os épicos mais importantes da Grécia antiga. Os resultados indicaram que esses longos poemas não poderiam ter sido compostos por um homem, mas que representavam uma combinação de muitas tradições independentes, que não poderiam nem mesmo ter surgido exatamente da mesma época. Em outras palavras, em algum momento um compilador compôs um novo texto com base em vários contos poéticos, um épico que veio a formar um todo novo e complexo; e era particularmente emocionante que ainda fosse possível para o estudioso moderno desembaraçar os muitos fios, desmontar a nova obra de arte composta em seus elementos originais. Para estudiosos classicamente treinados na Inglaterra, era doloroso ter que aceitar os resultados de tais investigações, pois Homero tinha o status de um dos gigantes da literatura mundial. Ele pode nem ter existido.
Essas ideias foram apresentadas pela primeira vez pelo estudioso alemão Friedrich August Wolf, já em 1795, e ele recomendou a seus alunos que estudassem precisamente o Antigo Testamento como um caso claro onde esses métodos literários poderiam ser aplicados com resultados interessantes (Hoffmann 1988: 39, n . 102).
Era óbvio para muitos na Inglaterra que essa influência alemã era perigosa, não apenas para aqueles que desejavam manter a pureza da herança clássica, mas também para o cristianismo. “Aqueles que acreditam em um grande poema”, escreveu o filólogo clássico John Stuart Blackie, “não podem evitar pensar que os wolfianos estão engajados em uma tentativa perversa, muito análoga ao método escasso de explicar o mundo sem um Deus, no qual certos intelectos incompletos encontraram em todas as eras um deleite não natural’ (Blackie 1866, vol. 1: 245, n.; Turner 1981).
Em outras palavras: se você abolir Homero, o próximo passo inevitável é abolir Deus.
A Alta Crítica envolveu uma série de conclusões e reinterpretações drásticas que eram muito difíceis de aceitar pela Igreja, principalmente no que diz respeito à compreensão adequada dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, o “Pentateuco”. Esses chamados livros ‘mosaicos’ não poderiam ter sido escritos por Moisés, concluiu-se, porque uma análise textual mostrou que eles eram compostos de vários textos individuais que poderiam ser separados uns dos outros. Esse ponto foi o suficiente para abalar a teoria clássica da Inspiração Verbal que postulava a natureza sagrada do texto como diretamente inspirado por Deus. Em vez disso, a Bíblia teve que ser considerada uma composição extremamente complexa que englobava textos que representavam tradições bastante separadas, muitas vezes mutuamente contraditórias.
(…)
Uma obra alemã que teve influência mais profunda no debate na Inglaterra estava relacionada ao Novo Testamento. Era uma biografia de Jesus escrita por David Friedrich Strauss e traduzida para o inglês em 1846 pelo famoso romancista George Eliot. Strauss explica a história de Jesus como um mito, não é um relato histórico factualmente verdadeiro, mas contém uma verdade espiritual fundamental, que pode ser separada da forma externa do mito, conforme contada nos Evangelhos. Na igreja , isso significa, na prática, que deve ser tarefa do padre individual fazer sua congregação compreender essa verdade espiritual. Como a hipocrisia nessa atitude corre o risco constante de ser tornada clara, a solução final e única verdadeira parece ser uma renúncia ao seu sacerdócio. Não é de surpreender que o tema do pároco que perdeu sua fé seja recorrente nos romances da época.
(…)
Todas essas ideias e desenvolvimentos científicos necessariamente levaram à insegurança e confusão, e esses sentimentos estavam na Inglaterra combinados de uma forma às vezes bizarra com o medo de ser invadido por influências estrangeiras: a Revolução Francesa que levou ao colapso temporário da Igreja Católica e os professores alemães eruditos com sua Alta Crítica se fundiram em uma imagem estranha do inimigo.
(…)
Um termo especial foi inventado para descrever doutrinas frouxas de inspiração e revelação: neologismos. Teólogos liberais eram suspeitos de introduzir ‘germanismos’ no pensamento inglês (…) O resultado foi uma atitude defensiva entre aqueles que aderiram a um ponto de vista crítico, pois acharam necessário distanciar -se da filosofia alemã , embora ainda reconhecessem sua dívida para com os estudiosos alemães. Eles sustentaram com firmeza que não somos de modo algum propensos a sermos mistificados por suas especulações filosóficas, nem a sermos levados por uma inclinação a forçar todos os fatos dentro do escopo de alguma teoria abrangente preconcebida (…) Havia outras forças envolvidas nessa crise religiosa, no entanto. Chadwick aponta que uma causa talvez mais fundamental foi o sentimento generalizado de que o Iahweh do Antigo Testamento era um deus moralmente inaceitável.
(…)
O jovem Layard tinha sido profundamente tocado por essas questões mesmo antes de sua partida e tinha sido atraído pela Unitarian Church, um dos muitos movimentos que ajudaram a espalhar a crítica bíblica. Ele agora retornava a uma Inglaterra que parecia ainda mais atolada em controvérsias religiosas, e seu trabalho sobre as descobertas de Nimrud necessariamente teve que ser influenciado por isso.
Suas escavações eram potencialmente extremamente importantes para a compreensão do Antigo Testamento como uma fonte histórica. Nínive é mencionada cerca de vinte vezes na Bíblia e há mais de cento e trinta referências à Assíria. Evidências contemporâneas diretas deste país antigo poderiam, em outras palavras, lançar uma forte, talvez reveladora, luz sobre o texto sagrado. Referências a eventos e pessoas já conhecidas da Bíblia eram esperadas, e para aquele que considerava a Bíblia como a palavra de Deus era complicado aceitar a ideia de que isso poderia ser comentado ou posto em dúvida por humanos, especialmente testemunhas oculares contemporâneas .
Alguns certamente sustentaram que tal conflito não poderia surgir e que, pelo contrário, os textos da Assíria certamente nos dariam uma compreensão mais ampla e profunda dos eventos conhecidos da Bíblia, sem de forma alguma tirar a veracidade do texto sagrado.
(…)
No entanto, o medo de um choque entre duas tradições textuais dominou os primeiros comentários, embora houvesse outro medo, talvez mais profundo, de que a Bíblia pudesse acabar sendo vista como de alguma forma “poluída” por um contato muito próximo com uma tradição pagã, mesopotâmica . Afinal, os judeus eram parte de um continuum cultural de um mundo antigo vagamente visível. Tipicamente Strauss em sua biografia de Jesus apontou que a Bíblia se originou em uma ‘condição espiritual’ que pertencia ao antigo mundo oriental, e era lógico, e tentador, procurar laços estreitos, também com respeito às tradições religiosas, entre a Bíblia hebraica e este mundo primitivo. Strauss pôde expressar tais convicções em uma época em que ainda nada era realmente conhecido sobre a antiga Mesopotâmia, um fato que ressalta a potencial veemência da controvérsia.
De fato, já em 1847 Layard recebeu a primeira pista das dificuldades que poderiam surgi, pois Rawlinson pôde informá-lo sobre as opiniões dos membros da Igreja Anglicana sobre suas atividades em Nimrud: “Eles me escreveram da Inglaterra dizendo que as antiguidades assírias despertavam grande interesse e que o clero ficou completamente alarmado com a ideia de haver anais contemporâneos para testar a credibilidade da história judaica. Um irmão meu , de fato , um membro do Exeter College e editor adjunto da ‘Oxford Magazine’ protesta veementemente contra o prosseguimento da pesquisa. Você já ouviu uma bobagem tão descarada?”
Mesmo antes disso, Layard ouviu de seu amigo Miner Kellogg que estava em êxtase com relação à importância potencial de Nimrud para a compreensão adequada do Bíblia: “Você mal pode sonhar com a importância que seus labores solitários podem ter sobre a compreensão correta das partes históricas e proféticas da Palavra Sagrada. Cada imagem que você descobre pode adicionar um elo naquela cadeia de interpretação que agora está sendo desdobrada em relação à significação daquelas passagens até então inexplicáveis e, posso dizer, aparentemente absurdas que abundam nas palavras do Antigo Testamento”.
Diante dessas expectativas e medos, e totalmente ciente da violência e amargura dos conflitos religiosos de seu tempo, Layard teve que agir com muito cuidado em sua interpretação do significado de suas descobertas, principalmente no que diz respeito à questão da cronologia. Ele claramente não era um anglicano ortodoxo, mas também não tinha o desejo de ser muito provocativo ou exibir suas próprias dúvidas religiosas.
Os relevos que foram descobertos diante de seus olhos o levaram, é claro, a especular sobre sua conexão com os relatos bíblicos da Assíria, e ele ficou particularmente impressionado com algumas passagens em Ezequiel que pareciam descrever os relevos assírios em detalhes. A conexão histórica era, portanto, óbvia, mas ele não se sentiu tentado a ir além de tais observações e de um tipo de religiosidade vaga. De fato, ele estava principalmente interessado na Bíblia na medida em que ela pudesse lançar luz sobre suas descobertas – onde outros colocavam a ênfase na direção oposta.
Enquanto os textos permaneceram ilegíveis, era impossível dizer quais eventos históricos e personagens foram retratados nos relevos de qualquer maneira, o que significava que nenhuma ligação firme entre a Assíria e a Bíblia Hebraica poderia ser estabelecida. Está claro em sua carta a Rawlinson, na qual ele escreveu sobre jogar petiscos para os conhecedores, que ele achava impossível localizar suas descobertas no tempo e, portanto, em sua relação com a história judaica. A datação dos palácios e seus construtores permaneceu uma barreira intransponível.
Mesmo assim, seus leitores e ouvintes perceberam claramente que suas descobertas poderiam adicionar séculos ou milênios à história registrada da humanidade. Um comentarista anônimo observou em 1852 que a geologia nos mostrou a Terra ‘Pré-adâmica’ habitada por alguns seres peculiares organizados; a astronomia havia resolvido as luzes bruxuleantes no céu noturno em um sistema de sóis e galáxias e mostrado que estes eram incompreensivelmente antigos. “Toda a ciência está, portanto, nos levando ao passado”, ele escreveu , e apontou que da mesma forma as descobertas de Layard tornaram disponível ao homem moderno um mundo que há muito havia perecido. No entanto, as ruas dessas cidades antigas podiam ser percorridas novamente, os palácios poderosos podiam ser adentrados e examinados, assim como os templos onde os antigos reis adoravam e os túmulos onde eles haviam sido sepultados.
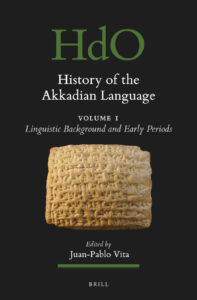
 A work of this type could only be a collective endeavor. The outcome is presented in 26 chapters written by 25 authors. It is, therefore, a work with a long and complex gestation. The authors were given only a general suggestion that, as far as possible, their chapters should not be limited to the grammatical aspects of the language, but should also take into account its historical and cultural background.
A work of this type could only be a collective endeavor. The outcome is presented in 26 chapters written by 25 authors. It is, therefore, a work with a long and complex gestation. The authors were given only a general suggestion that, as far as possible, their chapters should not be limited to the grammatical aspects of the language, but should also take into account its historical and cultural background.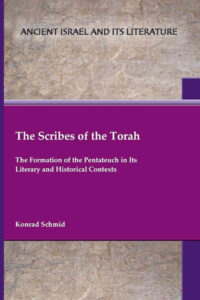

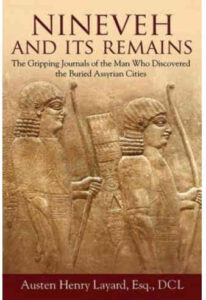
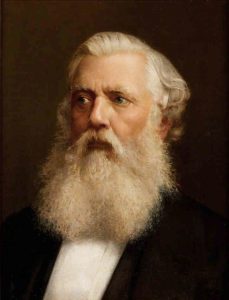
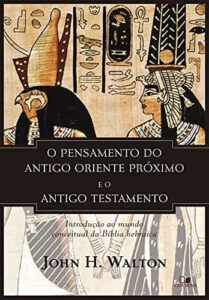
![LARSEN, M. T. The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land, 1840-1860. New York: Routledge, [1996] 2016, 424 p. LARSEN, M. T. The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land, 1840-1860. New York: Routledge, [1996] 2016, 424 p.](https://airtonjo.com/blog1/wp-content/uploads/2024/08/mtlarsen-1-212x300.jpg)