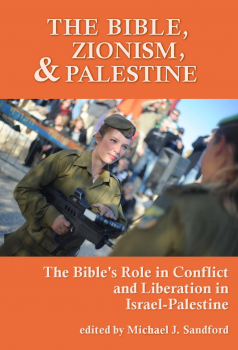Por Tariq Ali
A tomada de Cabul pelo Talibã em 15 de agosto de 2021 é uma grande derrota política e ideológica para o Império Americano. Os helicópteros lotados que transportavam funcionários da Embaixada dos Estados Unidos para o aeroporto de Cabul lembravam surpreendentemente as cenas em Saigon – agora Cidade Ho Chi Minh – em abril de 1975. A velocidade com que as forças do Talibã invadiram o país foi impressionante; sua perspicácia estratégica notável. Uma ofensiva de uma semana terminou triunfantemente em Cabul. O exército afegão de 300.000 homens desmoronou. Muitos se recusaram a lutar. Na verdade, milhares deles foram para o Talibã, que imediatamente exigiu a rendição incondicional do governo fantoche. O presidente Ashraf Ghani, um dos favoritos da mídia americana, fugiu do país e buscou refúgio em Omã. A bandeira do emirado revivido está agora tremulando sobre seu palácio presidencial. Em alguns aspectos, a analogia mais próxima não é Saigon, mas o Sudão do século XIX, quando as forças do Mahdi invadiram Cartum e martirizaram o general Gordon. William Morris comemorou a vitória do Mahdi como um revés para o Império Britânico. Ainda assim, enquanto os insurgentes sudaneses mataram uma guarnição inteira, Cabul mudou de mãos com pouco derramamento de sangue. O Talibã nem mesmo tentou tomar a embaixada dos EUA, muito menos mirar no pessoal norte-americano.
O vigésimo aniversário da “Guerra ao Terror” terminou, assim, em uma derrota previsível e prevista para os EUA, a Otan e outros que embarcaram na onda. No entanto, se considerarmos as políticas do Talibã – tenho sido um crítico severo por muitos anos – sua conquista não pode ser negada. Em um período em que os EUA destruíram um país árabe após o outro, não surgiu nenhuma resistência que pudesse desafiar os ocupantes. Essa derrota pode muito bem ser um ponto de inflexão. É por isso que os políticos europeus estão reclamando. Eles apoiaram os EUA incondicionalmente no Afeganistão e também sofreram uma humilhação, tanto quanto a Grã-Bretanha.
se considerarmos as políticas do Talibã – tenho sido um crítico severo por muitos anos – sua conquista não pode ser negada. Em um período em que os EUA destruíram um país árabe após o outro, não surgiu nenhuma resistência que pudesse desafiar os ocupantes. Essa derrota pode muito bem ser um ponto de inflexão. É por isso que os políticos europeus estão reclamando. Eles apoiaram os EUA incondicionalmente no Afeganistão e também sofreram uma humilhação, tanto quanto a Grã-Bretanha.
Biden ficou sem escolha. Os Estados Unidos anunciaram que se retirariam do Afeganistão em setembro de 2021 sem cumprir nenhum de seus objetivos “liberacionistas”: liberdade e democracia, direitos iguais para as mulheres e a destruição do Talibã. Embora possa estar invicto militarmente, as lágrimas derramadas por liberais amargurados confirmam a extensão mais profunda de sua perda. A maioria deles – Frederick Kagan no New York Times, Gideon Rachman no Financial Times – acredita que a retirada deveria ter sido adiada para manter o Talibã sob controle. Mas Biden estava simplesmente ratificando o processo de paz iniciado por Trump, com o apoio do Pentágono, que viu um acordo alcançado em fevereiro de 2020 na presença dos EUA, Talibã, Índia, China e Paquistão. O sistema de segurança norte-americano sabia que a invasão havia falhado: o Talibã não poderia ser subjugado, não importa quanto tempo permanecesse. A noção de que a retirada precipitada de Biden de alguma forma fortaleceu os militantes é bobagem.
O fato é que, ao longo de vinte anos, os Estados Unidos não conseguiram construir nada que pudesse resgatar sua missão. A Zona Verde brilhantemente iluminada sempre foi cercada por uma escuridão que os seus moradores não podiam compreender. Em um dos países mais pobres do mundo, bilhões eram gastos anualmente no ar-condicionado dos quartéis que abrigavam soldados e oficiais norte-americanos, enquanto comida e roupas eram regularmente transportadas de bases no Catar, Arábia Saudita e Kuwait. Não foi surpresa que uma enorme favela crescesse nas periferias de Cabul, enquanto os pobres se reuniam para procurar o que quer que fosse nas latas de lixo. Os baixos salários pagos aos serviços de segurança afegãos não conseguiram convencê-los a lutar contra seus compatriotas. O exército, formado ao longo de duas décadas, foi infiltrado em um estágio inicial por apoiadores do Talibã, que receberam treinamento gratuito no uso de equipamento militar moderno e atuaram como espiões da resistência afegã.
Esta foi a realidade miserável da “intervenção humanitária”. Embora haja crédito onde o crédito é devido: o país testemunhou um enorme aumento nas exportações. Durante os anos do Talibã, a produção de ópio foi rigorosamente monitorada. Desde a invasão dos Estados Unidos, ele aumentou dramaticamente e agora representa 90% do mercado global de heroína – fazendo com que se pergunte se esse conflito prolongado deve ser visto, pelo menos parcialmente, como uma nova guerra do ópio. Trilhões de dólares foram feitos em lucros e divididos entre os setores afegãos que serviram à ocupação. Os oficiais ocidentais foram generosamente pagos para permitir o comércio. Um em cada dez jovens afegãos agora é viciado em ópio. Os números das forças da Otan não estão disponíveis.
Quanto ao status das mulheres, nada mudou muito. Houve pouco progresso social fora da Zona Verde infestada de ONGs. Uma das principais feministas do país no exílio observou que as mulheres afegãs tinham três inimigos: a ocupação ocidental, o Talibã e a Aliança do Norte. Com a saída dos Estados Unidos, disse ela, eles terão dois. (No momento em que este artigo foi escrito, isso talvez possa ser alterado para um, já que os avanços do Talibã no norte eliminaram as principais facções da Aliança antes de Cabul ser capturada).
Apesar dos repetidos pedidos de jornalistas e ativistas, nenhum número confiável foi divulgado sobre a indústria do trabalho sexual que cresceu para servir aos exércitos de ocupação. Tampouco há estatísticas confiáveis de estupro – embora os soldados norte-americanos usem frequentemente violência sexual contra “suspeitos de terrorismo”, estuprem civis afegãos e deem luz verde ao abuso infantil por milícias aliadas. Durante a guerra civil iugoslava, a prostituição se multiplicou e a região tornou-se um centro de tráfico sexual. O envolvimento da ONU neste negócio lucrativo foi bem documentado. No Afeganistão, os detalhes completos ainda não foram revelados.
Mais de 775.000 soldados norte-americanos lutaram no Afeganistão desde 2001. Destes, 2.448 foram mortos, junto com quase 4.000 contratados norte-americanos. Aproximadamente 20.589 ficaram feridos em ação, de acordo com o Departamento de Defesa. Os números de baixas afegãs são difíceis de calcular, uma vez que as “mortes de inimigos” que incluem civis não são contadas. Carl Conetta, do Projeto de Alternativas de Defesa, estimou que pelo menos 4.200–4.500 civis foram mortos em meados de janeiro de 2002 como consequência do ataque dos EUA, tanto diretamente como vítimas da campanha de bombardeio aéreo e indiretamente na crise humanitária que se seguiu. Em 2021, a Associated Press informava que 47.245 civis morreram por causa da ocupação. Ativistas de direitos civis afegãos deram um total mais alto, insistindo que 100.000 afegãos (muitos deles não combatentes) morreram e três vezes esse número ficaram feridos.
Em 2019, o Washington Post publicou um relatório interno de 2.000 páginas encomendado pelo governo federal dos EUA para anatomizar os fracassos de sua guerra mais longa: “The Afeghanistan Papers”. Foi baseado em uma série de entrevistas com generais dos EUA (aposentados e em serviço), conselheiros políticos, diplomatas, trabalhadores humanitários e assim por diante. A avaliação combinada deles foi condenatória. O general Douglas Lute, o “czar da guerra afegã” sob Bush e Obama, confessou que “não tínhamos uma compreensão fundamental do Afeganistão – não sabíamos o que estávamos fazendo… Não tínhamos a menor noção do que estávamos assumindo… Se o povo americano soubesse a magnitude dessa disfunção.” Outra testemunha, Jeffrey Eggers, um militar das forças especiais da Marinha aposentado e funcionário da Casa Branca no governo de Bush e Obama, destacou o grande desperdício de recursos: “O que recebemos por este esforço de 1 trilhão de dólares? Valia 1 trilhão de dólares?… Depois da morte de Osama bin Laden, eu disse que Osama provavelmente estava rindo em sua sepultura, considerando o quanto gastamos no Afeganistão.” E ele poderia ter acrescentado: “E nós ainda perdemos.”
Quem era o inimigo? O Talibã, Paquistão, todos os afegãos? Um veterano soldado americano estava convencido de que pelo menos um terço da polícia afegã era viciada em drogas e outra parte considerável era de apoiadores do Talibã. Isso representou um grande problema para os soldados americanos, conforme testemunhou um chefe não identificado das Forças Especiais em 2017: “Eles pensaram que eu iria até eles com um mapa para mostrar onde vivem os mocinhos e os bandidos… Foram necessárias várias conversas para eles entenderem que eu não tinha essa informação em minhas mãos. No início, eles ficavam perguntando: ‘Mas quem são os bandidos, onde estão eles?’”.
Donald Rumsfeld expressou o mesmo sentimento em 2003: “Não tenho visibilidade de quem são os bandidos no Afeganistão ou no Iraque”, escreveu ele. “Eu li todos os informes e parece que sabemos muito, mas, na verdade, quando você pressiona, descobre que não temos nada que possa ser acionado. Lamentavelmente, somos deficientes em informação humana.” A incapacidade de distinguir entre um amigo e um inimigo é um problema sério – não apenas no nível schmittiano, mas prático. Se você não consegue dizer a diferença entre aliados e adversários depois de um ataque IED [Nota: improvised explosive device = artefato explosivo improvisado ou bomba caseira] em um mercado urbano lotado, você responde atacando a todos e criando mais inimigos no processo.
O coronel Christopher Kolenda, conselheiro de três generais, apontou outro problema com a missão dos Estados Unidos. “A corrupção foi galopante desde o início”, disse ele; o governo Karzai foi “autoorganizado em uma cleptocracia”. Isso minou a estratégia pós-2002 de construir um Estado que pudesse sobreviver à ocupação. “A corrupção mesquinha é como o câncer de pele, existem maneiras de lidar com isso e provavelmente você ficará bem. A corrupção dentro dos ministérios, de nível superior, é como o câncer de cólon; é pior, mas se você perceber a tempo, provavelmente está tudo bem. A cleptocracia, entretanto, é como um câncer no cérebro; é fatal.” Claro, o Estado do Paquistão – onde a cleptocracia está incorporada em todos os níveis – sobreviveu por décadas. Mas as coisas não foram tão fáceis no Afeganistão, onde os esforços de construção da nação foram liderados por um exército de ocupação e o governo central tinha escasso apoio popular.
O que dizer dos relatórios falsos de que o Talibã foi derrotado para nunca mais voltar? Uma figura importante do Conselho de Segurança Nacional refletiu sobre as mentiras difundidas por seus colegas: “Foram as explicações deles. Por exemplo, os ataques [do Talibã] estão piorando? ‘Isso porque há mais alvos para eles atirarem, então mais ataques são um falso indicador de instabilidade.’ Então, três meses depois, os ataques ainda estão piorando? ‘É porque o Talibã está ficando desesperado, então é na verdade um indicador de que estamos vencendo’… E isso continuou e continuou por duas razões, para fazer com que todos os envolvidos parecessem bem e para fazer parecer que as tropas e os recursos estavam tendo o tipo de efeito em que removê-los causaria a deterioração do país.”
Tudo isso era um segredo aberto nas chancelarias e nos ministérios da defesa da Otan na Europa. Em outubro de 2014, o secretário de Defesa britânico Michael Fallon admitiu que “Erros foram cometidos militarmente, erros foram cometidos pelos políticos da época e isso remonta a 10, 13 anos… Não vamos enviar tropas de combate de volta ao Afeganistão, sob quaisquer circunstâncias.” Quatro anos depois, a primeira-ministra Theresa May realocou as tropas britânicas para o Afeganistão, dobrando seus combatentes “para ajudar a enfrentar a frágil situação de segurança”. Agora a mídia do Reino Unido está ecoando o Ministério das Relações Exteriores e criticando Biden por ter feito o movimento errado na hora errada, com o chefe das Forças Armadas britânicas, Sir Nick Carter, sugerindo que uma nova invasão poderia ser necessária. Defensores conservadores, nostálgicos coloniais, jornalistas fantoches e bajuladores de Blair estão fazendo fila para pedir uma presença britânica permanente no estado dilacerado pela guerra.
O que é surpreendente é que nem o General Carter nem seus substitutos parecem ter reconhecido a escala da crise enfrentada pela máquina de guerra dos EUA, conforme estabelecido em “The Afghanistan Papers”. Enquanto os planejadores militares norte-americanos lentamente despertam para a realidade, seus colegas britânicos ainda se apegam a uma imagem fantasiosa do Afeganistão. Alguns argumentam que a retirada colocará em risco a segurança da Europa, com o reagrupamento da Al-Qaeda sob o novo emirado islâmico. Mas essas previsões são falsas. Os EUA e o Reino Unido passaram anos armando e ajudando a Al-Qaeda na Síria, como fizeram na Bósnia e na Líbia. Esse fomento do medo só pode funcionar em um pântano de ignorância. Para o público britânico, pelo menos, não parece ter funcionado. A história às vezes imprime verdades urgentes em um país por meio de uma demonstração vívida de fatos ou de uma exposição das elites. A retirada atual provavelmente será um desses momentos. Os britânicos, já hostis à Guerra ao Terror, poderiam endurecer em sua oposição a futuras conquistas militares.
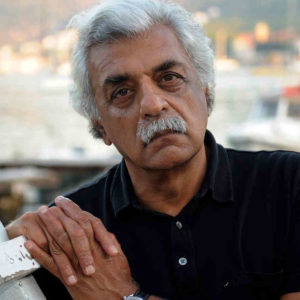 O que o futuro guarda? Replicando o modelo desenvolvido para o Iraque e a Síria, os EUA anunciaram uma unidade militar especial permanente, composta por 2.500 soldados, a ser estacionada em uma base do Kuwait, pronta para voar para o Afeganistão e bombardear, matar e mutilar caso seja necessário. Enquanto isso, uma delegação poderosa do Talibã visitou a China em julho passado, prometendo que seu país nunca mais seria usado como plataforma de lançamento para ataques a outros estados. Discussões cordiais foram mantidas com o Ministro das Relações Exteriores da China, supostamente cobrindo relações comerciais e econômicas. A cúpula relembrou encontros semelhantes entre mujahidin afegãos e líderes ocidentais durante a década de 1980: os primeiros aparecendo com seus trajes wahabitas e cortes de barba regulamentares contra o cenário espetacular da Casa Branca ou o número 10 de Downing Street [Nota: Residência do Primeiro Ministro Britânico]. Mas agora, com a Otan em retirada, os principais atores são China, Rússia, Irã e Paquistão (que sem dúvida forneceu assistência estratégica ao Talibã, e para quem este é um grande triunfo político-militar). Nenhum deles deseja uma nova guerra civil, em total contraste com os EUA e seus aliados após a retirada soviética. As estreitas relações da China com Teerã e Moscou podem permitir que trabalhe no sentido de assegurar alguma paz frágil para os cidadãos deste país traumatizado, auxiliado pela contínua influência russa no norte.
O que o futuro guarda? Replicando o modelo desenvolvido para o Iraque e a Síria, os EUA anunciaram uma unidade militar especial permanente, composta por 2.500 soldados, a ser estacionada em uma base do Kuwait, pronta para voar para o Afeganistão e bombardear, matar e mutilar caso seja necessário. Enquanto isso, uma delegação poderosa do Talibã visitou a China em julho passado, prometendo que seu país nunca mais seria usado como plataforma de lançamento para ataques a outros estados. Discussões cordiais foram mantidas com o Ministro das Relações Exteriores da China, supostamente cobrindo relações comerciais e econômicas. A cúpula relembrou encontros semelhantes entre mujahidin afegãos e líderes ocidentais durante a década de 1980: os primeiros aparecendo com seus trajes wahabitas e cortes de barba regulamentares contra o cenário espetacular da Casa Branca ou o número 10 de Downing Street [Nota: Residência do Primeiro Ministro Britânico]. Mas agora, com a Otan em retirada, os principais atores são China, Rússia, Irã e Paquistão (que sem dúvida forneceu assistência estratégica ao Talibã, e para quem este é um grande triunfo político-militar). Nenhum deles deseja uma nova guerra civil, em total contraste com os EUA e seus aliados após a retirada soviética. As estreitas relações da China com Teerã e Moscou podem permitir que trabalhe no sentido de assegurar alguma paz frágil para os cidadãos deste país traumatizado, auxiliado pela contínua influência russa no norte.
Muita ênfase foi dada à idade média da população no Afeganistão: 18 anos, em uma população de 40 milhões. Por si só, isso não significa nada. Mas há esperança de que os jovens afegãos se esforcem por uma vida melhor após o conflito de quarenta anos. Para as mulheres afegãs, a luta não acabou, mesmo que apenas um inimigo permaneça. Na Grã-Bretanha e em outros lugares, todos aqueles que querem continuar lutando devem mudar seu foco para os refugiados que logo estarão batendo à porta da Otan. No mínimo, refúgio é o que o Ocidente deve a eles: uma pequena reparação por uma guerra desnecessária.
Tariq Ali (Lahore, 21 de outubro de 1943) é um escritor, jornalista e historiador britânico de origem paquistanesa. Escreve periodicamente para o jornal britânico The Guardian, para a revista New Left Review, CounterPunch, a London Review of Books e SinPermiso.
Fonte: Blog da Boitempo – 16/08/2021. Publicado originalmente, em inglês, em Sidecar, blog da New Left Review, em 16 de agosto 2021. A tradução é de Valerio Arcary.
Debacle in Afghanistan – Sidecar: 16 August 2021
The fall of Kabul to the Taliban on 15 August 2021 is a major political and ideological defeat for the American Empire. The crowded helicopters carrying US Embassy staff to Kabul airport were startlingly reminiscent of the scenes in Saigon – now Ho Chi Minh City – in April 1975. The speed with which Taliban forces stormed the country was astonishing; their strategic acumen remarkable. A week-long offensive ended triumphantly in Kabul. The 300,000-strong Afghan army crumbled. Many refused to fight. In fact, thousands of them went over to the Taliban, who immediately demanded the unconditional surrender of the puppet government. President Ashraf Ghani, a favourite of the US media, fled the country and sought refuge in Oman. The flag of the revived Emirate is now fluttering over his Presidential palace. In some respects, the closest analogy is not Saigon but nineteenth-century Sudan, when the forces of the Mahdi swept into Khartoum and martyred General Gordon. William Morris celebrated the Mahdi’s victory as a setback for the British Empire. Yet while the Sudanese insurgents killed an entire garrison, Kabul changed hands with little bloodshed. The Taliban did not even attempt to take the US embassy, let alone target American personnel.
The twentieth anniversary of the ‘War on Terror’ thus ended in predictable and predicted defeat for the US, NATO and others who clambered on the bandwagon. However one regards the Taliban’s policies – I have been a stern critic for many years – their achievement cannot be denied. In a period when the US has wrecked one Arab country after another, no resistance that could challenge the occupiers ever emerged. This defeat may well be a turning point. That is why European politicians are whinging. They backed the US unconditionally in Afghanistan, and they too have suffered a humiliation – none more so than Britain… (Read more)