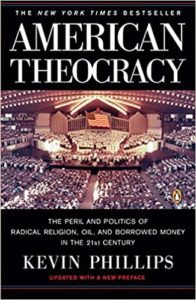Bush diz que violência no Iraque não acabará tão cedo
Três anos depois da invasão do Iraque e com mais de 2.300 mortos desde então, o desapontamento toma conta dos americanos, mas o presidente George W. Bush, cujo legado está em jogo no país árabe, mantém sua política e garante que não voltará atrás.
“Estes últimos três anos testaram nossa determinação. Vimos dias duros e passos para atrás”, admitiu o presidente, que declarou que seu Governo “está consertando o que não funcionou”.
“Terminaremos a missão. Vencendo os terroristas no Iraque, traremos mais segurança para o nosso país”, disse Bush em seu programa semanal de rádio.
As declarações do presidente acontecem dois dias depois que as tropas americanas lançassem o maior ataque aéreo desde o começo da invasão no Iraque, na chamada “Operação Enxame”, em que mais de 60 pessoas foram detidas.
Cenário devastado
O terceiro aniversário do conflito encontra Bush em condições muito diferentes daquela noite do dia 19 (madrugada de 20 no país árabe) de março de 2003, quando deu a ordem de começar a invasão no Iraque com o argumento que o regime de Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, que nunca seriam encontradas.
Se então 69% dos americanos apoiavam o presidente e a guerra, hoje as pesquisas apontam que a popularidade de Bush está no menor nível de seus cinco anos de mandato: entre 36 e 37%.
Atualmente, 57% dos americanos consideram a invasão um erro, contra os 23% que tinham essa opinião em março de 2003.
As mesmas pesquisas também indicam que o andamento do conflito, em que os EUA ainda mantêm mais de 130.000 soldados, é a principal preocupação dos americanos, superando qualquer outro aspecto da política da atual Administração.
Dois terços dos americanos acham que a história lembrará Bush pelo conflito no país árabe e as consequências a longo prazo que este venha a ter, segundo pesquisa elaborada esta semana pelo instituto Gallup.
A fraqueza do presidente relacionada ao Iraque o debilitou muito para enfrentar outros problemas.
A situação ficou clara na semana passada, quando a oposição no Congresso levou ao fracasso de um acordo, apoiado pessoalmente por Bush, para que uma empresa árabe administrasse seis portos americanos.
Numerosos legisladores republicanos se opunham a essa iniciativa, algo que teria sido insólito há apenas um ano, quando o presidente acabava de ser reeleito para um segundo mandato.
Agora, o presidente enfrenta uma moção de censura dentro do Senado, iniciativa do senador democrata Russ Feingold que tem um único precedente, em 1834, contra Andrew Jackson. Apesar de ter caráter meramente formal, a moção requer a realização de uma votação no plenário da câmara.
Bush também teve que abrir mão de uma série de iniciativas internas promovidas com estardalhaço, como a reforma do sistema previdenciário, e optar por objetivos muito mais modestos, como mudanças na assistência médica aos idosos.
Segundo declarou ao jornal “USA Today” o analista político Steven Schier, autor do livro “High Risk and Big Ambition: The Presidency of George W. Bush”, a Casa Branca “esperava no segundo mandato se dedicar a outra série de coisas, como a reforma da Previdência Social, mas tudo isso ficou de lado por causa do Iraque”.
Um dos principais assessores das campanhas eleitorais de Bush, Mark McKinnon, afirmou que “a guerra está sendo o motor de praticamente tudo neste Governo”.
Diante da situação, o presidente se viu obrigado, pela segunda vez em quatro meses, a iniciar uma campanha de discursos em defesa da guerra.
A primeira, em novembro, levou a uma alta nos índices de popularidade de Bush em um momento em que o presidente enfrentava uma difícil situação devido não apenas à guerra, mas também ao impacto do furacão Katrina e à apresentação de acusações formais de perjúrio contra um alto funcionário da Casa Branca, entre outras questões.
Em sua nova campanha, apresentada na segunda-feira passada, Bush assegurou, como tem feito até agora, que os EUA se manterão no Iraque o tempo que for necessário.
Mas também reconheceu que o país árabe atravessa momentos muito delicados, especialmente com a violência confessional que explodiu após o atentado contra a Mesquita Dourada de Samarra, um dos principais santuários xiitas.
“Gostaria de poder dizer que a violência está diminuindo e que o caminho pela frente será um mar de rosas. Não será”, disse o presidente ao pedir paciência aos americanos.
A mensagem é muito diferente da transmitida pela faixa com a frase “Missão cumprida” que aparecia atrás do presidente americano quando este deu por encerradas, no começo de maio de 2003, as principais operações militares no Iraque.
Fonte: Folha Online – 18/03/2006
Europa e Ásia protestam contra invasão no Iraque
Uma série de protestos contra os três anos da invasão dos Estados Unidos no Iraque, que serão completados amanhã, aconteceram neste sábado. Além da Europa, ocorreram manifestações na Austrália, no Japão e na Turquia.
Em Sidney, na Austrália, 500 pessoas protestaram nas ruas da cidade com placas com frases como “Parem a guerra agora” e “Tropas fora do Iraque”. Alguns traziam fotografias do presidente norte-americano George W. Bush, afirmando que ele era o maior terrorista do momento.
Em Londres, na Inglaterra, os protestos aconteceram próximo à sede do Parlamento e do Big Ben. Placas brancas cobertas com tinta vermelha simbolizavam o sangue derramado pelas vítimas da guerra acompanhavam os manifestantes. Segundo estimativa da polícia inglesa, cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas da cidade para protestar.
Em Tóquio, no Japão, cerca de 2 mil pessoas também passaram a manhã nas ruas. O mesmo aconteceu nas principais ruas de Istambul, na Turquia, na Suíça, na Espanha, na Grécia, entre outros locais.
Fonte: Folha Online – 18/03/2006
Iraquianos vivem com medo e insatisfeitos
Três anos após a invasão que acabou com a ditadura de Saddam Hussein, a incerteza e o temor caracterizam a vida cotidiana dos iraquianos, marcada pela insegurança e pela falta de serviços básicos.
Apesar de terem à disposição agora muitos jornais para ler e mais redes de TV para assistir do que antes, os iraquianos lembram com frustração as promessas feitas pelos “libertadores” de tornar o país um modelo de democracia e prosperidade para o resto das nações árabes do Oriente Médio.
As explosões, o barulho das ambulâncias, dos aviões militares e dos tanques são ouvidos diariamente em várias cidades do país, especialmente em Bagdá, onde a criminalidade e a violência política dispararam.
Nesta situação, as famílias pensam duas vezes todos os dias antes de mandarem seus filhos à escola, e as mulheres preferem fazer as compras necessárias por temer que seus maridos sejam assassinados se saírem às ruas.
“Esperávamos que os EUA nos trouxessem calma e prosperidade, mas três anos depois só vimos ataques e carências nos serviços públicos”, disse à Efe Nasser Hassan, proprietário de uma loja de venda de roupa.
Ele se queixa de que teve que contratar um funcionário para trabalhar em sua loja, evitando saídas diárias de casa.
Mais de 30 mil iraquianos, tanto civis como militares, morreram desde 20 de março de 2003 nos atentados que sacodem o país quase diariamente.
São frequentes os anúncios pagos nos jornais sob o título de “Desaparecido”, com a foto de um ser querido supostamente sequestrado ou assassinado, e as aglomerações em frente aos depósitos de corpos e dos hospitais para procurar um parente que “saiu e não voltou”.
Sara, uma viúva de aproximadamente 30 anos e mãe de três filhos, diz que seu marido foi assassinado, supostamente, por um grupo xiita, quando saía de uma mesquita sunita na capital, e que sua família a obrigou a sair de casa para morar na de seu pai devido ao medo de ataques.
Abdelrasul Ali, um mecânico xiita de 37 anos, lamenta a perda de dois membros de sua família durante o regime de Saddam “só por serem xiitas”, e agora sente que, pela mesma razão, está “no ponto de mira dos terroristas, com seus carros-bomba e suas operações suicidas”.
Quem mais teme ser assassinado são os funcionários do novo Governo, os cientistas e os acadêmicos. Segundo Issam al-Rawi, presidente da Liga de Professores Universitários, pelo menos 185 acadêmicos morreram nos últimos três anos.
“O cidadão iraquiano vive em uma situação trágica e obscura. Eu, por exemplo, não trabalho porque sei de que se sair de casa talvez não volte”, disse Abdel Karim Maaruf, professor de Ciências da Universidade de Bagdá.
Uma postura parecida é a de Mazen Abd, formado em Economia e Ciências Políticas. “Estive a ponto de morrer duas vezes, uma na explosão de um carro-bomba há dois anos e outra este ano em um tiroteio quando estava esperando em um posto de gasolina de Bagdá”, lembra.
Os contínuos cortes de fornecimento água potável, eletricidade e gás de uso doméstico, e a falta de gasolina em um país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo também dificultam a vida dos iraquianos.
“Minha família teve que voltar a usar os antigos fogões de querosene para cozinhar, depois de desaparecerem os bujões de gás doméstico”, diz Hussein Fadel, taxista que passa diariamente horas nas longas filas dos postos de gasolina de Bagdá.
Segundo Assem Jihad, porta-voz do Ministério do Petróleo, o Governo iraquiano teve que importar gasolina e gás para uso doméstico devido aos constantes ataques contra as instalações petrolíferas, repetidos também contras as unidades de tratamento de água e as centrais de energia elétrica.
Os cortes de luz na capital duram 11 horas todos os dias, enquanto os habitantes de outras cidades, especialmente na província rebelde de Al Anbar, vivem 16 horas diárias sem eletricidade.
Analistas do setor elétrico afirmam que a produção atual é de aproximadamente 4.000 megawatts, ou seja, 750 megawatts a menos do que o Iraque produzia até março de 2003.
Fonte: Folha Online – 18/03/2006
Milhares vão às ruas para exigir retirada de americanos do Iraque
Milhares de manifestantes saíram às ruas neste sábado em diversas cidades dos Estados Unidos, do Canadá e em São Paulo exigir a retirada das tropas americanas do Iraque, três anos depois do início da ocupação no país.
Em Nova York, o protesto reuniu mil pessoas nas imediações da Times Square, no centro da cidade. “A opinião pública está em peso do nosso lado. Cada dia que passa demonstra que a ocupação é a causa da violência no Iraque”, afirmou Dustin Langley, membro da “Troups Out Now” (Tirem as tropas já), um dos grupos que organizaram as manifestações, por ocasião dos três anos da invasão pela coalizão liderada pelos Estados Unidos no Iraque.
“Mas não são os políticos, qualquer que seja seu partido, quem vai acabar com a guerra, por isso temos que sair às ruas”, acrescentou Langley.
Os americanos também se manifestaram em Washington, São Francisco, Los Angeles e dezenas de cidades menores dos Estados Unidos.
Além disso, o grupo pacifista “United for Peace and Justice Coordinating” prometeu mais de 500 eventos nos 50 Estados do país.
Em seu programa semanal de rádio, neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, reafirmou que o movimento rumo ao Iraque foi “a decisão certa”, mas prometeu superar a violência que causou a morte de 2.300 soldados americanos.
“Terminaremos a missão. Vencendo os terroristas no Iraque, traremos mais segurança para o nosso país”, disse Bush em seu programa semanal de rádio.
Recentes pesquisas mostraram que a popularidade do presidente está no seu menor nível, com cada vez mais americanos céticos em relação à sua gestão da guerra e à invasão para derrubar Saddam Hussein.
No Brasil, cerca de 2.000 pessoas participaram em São Paulo da jornada mundial de protestos contra a guerra do Iraque. A manifestação foi convocada pelos integrantes do Fórum Social Mundial.
Os participantes da marcha denunciaram a militarização dos conflitos e a presença de bases americanas na América Latina.
Brasília se opôs há três anos à intervenção liderada pelo governo do presidente George W. Bush para retirar Saddam Hussein do poder.
No Canadá, país vizinho aos Estados Unidos, centenas de pessoas também protestaram pelo fim da guerra no Iraque e pela retirada das tropas do país do Afeganistão.
Pelo menos 300 pessoas se reuniram no centro de Montreal sob o chamado da organização “Não à Guerra”.
O porta-voz da entidade, Raymond Legault, fez um discurso que condenou a ocupação americana no Iraque, pedindo a saída imediata das tropas canadenses do Afeganistão.
Em Toronto, a cidade mais importante do Canadá, outra manifestação reuniu 1 milhão de pessoas em frente ao consulado americano. Em Ottawa, centenas de manifestantes, principalmente estudantes, desfilaram nas ruas da Embaixada dos Estados Unidos e do Parlamento.
Fonte: Folha Online – 18/03/2006