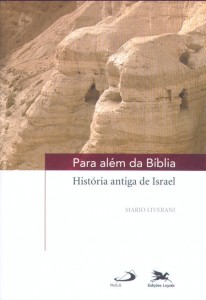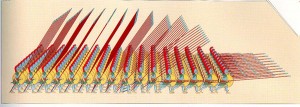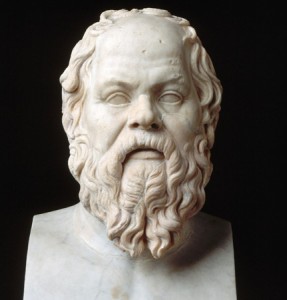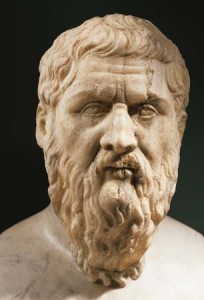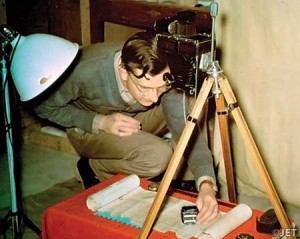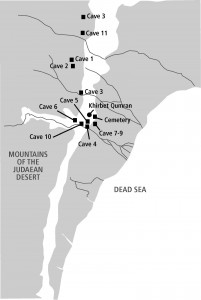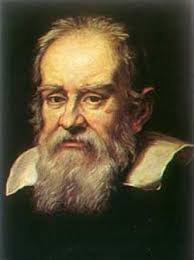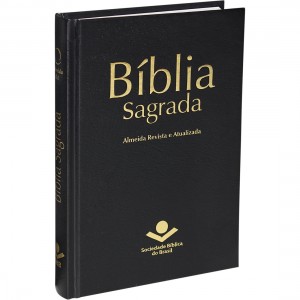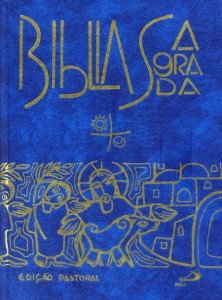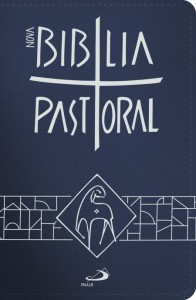SOTER ’98: Experiência religiosa. Risco ou aventura?
SOTER ’98: Experiência religiosa. Risco ou aventura?
leitura: 30 min
1. O Congresso
O Congresso da SOTER[1], Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, trabalhando sobre o tema Experiência Religiosa: Risco ou Aventura? foi realizado com sucesso em Belo Horizonte, de 6 a 10 de julho de 1998. Cerca de 170 teólogos, teólogas, cientistas da religião e áreas afins estiveram presentes. Destaque, entre os participantes, para alguns dos teólogos e cientistas da religião que mais produzem em nosso país, como João Batista Libânio, Clodovis Boff, Carlos Mesters, Alberto Antoniazzi, Pedro Ribeiro de Oliveira, Luiz Roberto Benedetti, Márcio Fabri dos Anjos, José Comblin, Mário de França Miranda, Maria Clara Bingemer, Ana Maria Tepedino, Walter Altmann, Francisco Catão, José Bittencourt Filho, Cleto Caliman e tantos outros.
Do CEARP participaram os professores Paulo Fernando Carneiro de Melo Cunha e Airton José da Silva. No dia 5 de agosto, os dois professores fizeram, durante toda uma manhã, um comunicado sobre o congresso para toda a comunidade acadêmica do CEARP.
Conforme o Boletim n. 24 da SOTER, de agosto de 1998[2], que utilizarei como referência básica aqui, “em bom ritmo de congresso, foram apresentados os muitos estudos e pesquisas, com grande riqueza e variação, conforme se pode ler no libreto do congresso”, que traz um resumo das conferências e comunicações científicas feitas no congresso[3].
No dia 6, uma noite de autógrafos, realizada logo após a conferência de abertura, “revelou vinte e uma obras publicadas ultimamente pelos sócios/as. Uma média bastante boa de produção científica para a SOTER”. Entre os lançamentos, destaco aqui o esperado estudo de Clodovis Boff, Teoria do Método Teológico. Petrópolis: Vozes, 1998, um alentado volume de 758 páginas, no qual o conhecido teólogo, nestes tempos de transição e crise, volta ao fundamento operativo da teologia, que é o seu método. Clodovis, neste seu empreendimento, lança mão das mais recentes pesquisas em epistemologia teológica feitas a nível mundial, na Alemanha, Suíça, França, Itália, USA, Espanha e América Latina. Mas também recorre à longa tradição teológica para ouvir a “lição dos clássicos”, que vão desde Agostinho até Rahner, passando por Anselmo, Tomás de Aquino, Boaventura e Duns Scoto. Sem deixar de fora os “teólogos naturais”, como Platão, Aristóteles, Varrão e Horkheimer.
Além das palestras e debates em plenário, que ocuparam as manhãs e as tardes, ocorreram comunicações científicas à noite, organizadas em três grupos concomitantes e em três dias diferentes. Conforme o Boletim da SOTER, “algumas delas foram particularmente importantes para se conhecerem novas gerações de pesquisadores/as que estão despontando”.
A SOTER preparou duas publicações diferentes sobre o Congresso deste ano. Uma, com as conferências: DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito. São Paulo: SOTER/Paulinas, 1998, 350 p. A outra, com as comunicações científicas, pela Editora Santuário. Vale lembrar que em preparação ao congresso foi publicado um livro de ensaios sobre o tema a ser discutido, e no qual se recolheram aspectos diversificados. O livro, também organizado por Márcio Fabri dos Anjos, tem por título Experiência Religiosa Risco ou Aventura?, e foi publicado pelas Paulinas em coedição com a SOTER.
2. A Assembleia
Este Congresso da SOTER realizou também Assembleia para eleição da nova Diretoria que comandará a organização pelos próximos três anos. Chapa única acolhida calorosamente e eleita por unanimidade, a nova Diretoria ficou assim composta: para Presidente, Luiz Carlos Susin (Porto Alegre – RS); para Vice-presidente, Agenor Brighenti (Florianópolis – SC); para Secretário, Érico Hammes (Porto Alegre – RS); para Segundo Secretário, Flávio Martinez de Oliveira (Pelotas – RS); para Tesoureira, Araci Maria Ludwig (Passo Fundo – RS). Foram igualmente eleitos os Coordenadores Regionais com seus respectivos suplentes[4].
Segundo a descrição do Boletim n. 24, “a Assembleia se pronunciou também sobre programações futuras e aprovou que se realize o próximo Congresso, em Belo Horizonte – MG, de 5 a 9 de julho de 1999. Entre as sugestões levantadas pelos diversos Regionais da SOTER, a Assembleia escolheu para tal evento o tema genericamente formulado como ‘Cosmologia’, visando aproximar o estudo da teologia e das ciências da religião com a ‘teologia da criação, as ciências de fronteira, a ecologia’. Outro tema que ficou em segundo lugar nas preferências foi enunciado como ‘Teologia e História’, referindo-se às questões de ‘escatologia, milenarismo, fim do mundo, teologia da esperança’. Foi aprovado também, sem maiores definições, que se organize também outro congresso para o ano 2000”. A novidade é que este contará com a participação de outras entidades teológicas latino-americanas similares à SOTER.
De uma reunião de Mulheres participantes do Congresso foi mandado ao Boletim da SOTER o seguinte comunicado: “Vinte e duas das quarenta mulheres que participaram no Congresso da Soter/98, apesar da extensa programação, conseguiram fazer uma reunião de fim de noite, durante o Congresso, para trocar experiências de vida e de trabalho profissional/pastoral. Ficou demonstrado concretamente, embora em um curto espaço de tempo, a importância da articulação práxis-teoria para uma metodologia teológica adequada, sobretudo quando é percebida através de um diálogo aberto e afetivo entre as pessoas comprometidas e fecundada por uma espiritualidade viva e partilhada.
A reunião teve uma presença bastante diversificada de mais antigas e mais novas, leigas e religiosas: teólogas com mestrado e doutorado completos, experiência acadêmica, artigos e livros publicados; mestrandas e doutorandas em teologia; especialistas no campo das ciências da religião e das ciências sociais; responsáveis pelo Conselho Editorial de editoras presentes, e outras.
Sentiu-se a necessidade de um trabalho mais organizado entre as participantes antes, durante e depois de cada Congresso. Este procedimento poderá dinamizar a presença articulada de mulheres e homens nos próximos congressos. Para tal, pensamos fazer a reunião das mulheres nas segundas feiras à tarde, no horário que antecede a abertura de cada Congresso e o cocktail de congraçamento. A teóloga doutora Delir Brunelli foi escolhida por unanimidade como representante das mulheres junto à Diretoria da Soter.”
3. A abrangência do tema e a perspectiva assumida
O Boletim n. 23, de maio de 1998, falando do Congresso, diz que “a amplidão do tema da ‘experiência religiosa’ exige naturalmente concentrar agora as atenções em alguns aspectos, para que se possa avançar na reflexão. Neste congresso, assumimos o Neopentecostalismo e a Renovação Carismática Católica como lugares a partir de onde desenvolvemos os estudos e debates. A atualidade destes espaços como lugares de experiência religiosa dispensa argumentação sobre sua relevância”.
Na Conferência de Abertura, Mapas da experiência religiosa no contexto atual, o Presidente da SOTER, Prof. Dr. Márcio Fabri dos Anjos, chamou a atenção para o seguinte, conforme consta da ementa publicada no Boletim n. 23: “Quando falamos em ‘experiência religiosa’ mencionamos um assunto de uma enorme abrangência. Toda aproximação desse tema requer delimitações precisas e boa interdisciplinaridade. A porta de entrada nesse tema tem sido com frequência as perguntas em torno da ‘experiência’. Mas talvez uma das chaves interessantes para se compreender a problemática atual neste assunto pode estar na conotação ‘religiosa’ da experiência e ao que ela remete”. Márcio desenvolveu sua palestra desdobrando as múltiplas definições e lugares da “experiência religiosa”.
Nos três dias seguintes, 7, 8 e 9 de junho, os conferencistas abordaram o tema dentro da seguinte lógica: no primeiro dia, a experiência religiosa foi enfocada sob o ponto de vista socioantropológico; no segundo dia, a abordagem foi fundamentalmente teológica: no terceiro dia, se concretizou uma abordagem prático-pastoral da questão. E, finalmente, no dia 10, para encerrar as conferências, Clodovis Boff falou dos horizontes e perspectivas da teologia para o novo milênio, sempre sob a ótica da experiência religiosa.
3.1. Abordagem socioantropológica
No dia 7, O Neopentecostalismo e a Renovação Carismática Católica foram abordados por Ricardo Mariano, Mestre em Sociologia pela USP; Brenda Maribel Carranza Davila, Mestre em Sociologia pela UNICAMP; Cecília Mariz, Doutora em Sociologia da Cultura e da Religião pela Boston University (USA) e por Luiz Roberto Benedetti, Doutor em Sociologia pela USP.
Segundo Ricardo Mariano o que mais chama a atenção no neopentecostalismo é que ele se firma no Brasil “como uma religião que cada vez mais deita raízes em nossa sociedade e é por ela influenciada num processo de assimilação mútua”. Embora excessos possam ser cometidos, como os “chutes na santa”, a “assimilação da cultura ambiente, não obstante sua rivalidade com outras religiões e as contínuas importações teológicas dos Estados Unidos, constitui processo, ao que parece irreversível”[5]. Por isso, supô-los, de um lado, “fundamentalistas”, “fascistas de carteirinha” ou, de outro, inversamente, como “portadores tardios da velha ética protestante em tudo afim com o chamado espírito capitalista” é um anacronismo. “O futuro dessa religião, como já dá mostras de sobra seu presente, aponta noutra direção: flexibilização, ajustamento, assimilação, secularização”[6].
Brenda Carranza, por sua vez, salientou em sua palestra que “fazer da experiência religiosa uma mercadoria submetida às leis da concorrência no mercado de bens simbólicos, parece ser o tom que a Renovação Carismática Católica (RCC) quer imprimir à sua oferta espiritual”[7]. Um texto do padre Eduardo Dougherty, citado por Brenda nesta mesma página, e tirado de O Globo de 05.10.1997, p. E-11 é bem esclarecedor deste objetivo da RCC. Diz Eduardo Dougherty[8]: “Acredito que a Igreja Católica precisa encantar seus clientes. Utilizando um termo de marketing, temos o melhor produto possível que é Deus; o melhor preço possível que é grátis; uma rede mundial de distribuição bastante ampla; mas ainda temos que fazer muito barulho. O nosso produto tem que ser uma experiência de Deus”.
A partir dessa ótica, e tendo como pano de fundo as diferenças e semelhanças entre a RCC e o pentecostalismo e a tensão existente entre a Teologia da Libertação e a RCC, Brenda levanta em sua palestra uma série de questões sobre a RCC, segundo ela, ainda mal respondidas pelos especialistas: “Em que momento a RCC começou a tomar corpo e tornar-se relevante dentro do catolicismo e da sociedade? O que tem a RCC que atrai e aglutina tantos católicos? Qual a conjuntura social que permite sua expansão? Qual a especificidade de sua oferta religiosa perante a diversidade do campo religioso no Brasil? Quais suas relações com esse campo? É a RCC, de fato, portadora de elementos novos que mudam o perfil da Igreja Católica?”[9].
Interessante no estudo de Brenda é sua observação de que “desde as suas origens, a RCC se debateu entre sua potencialidade carismática (autonomia dos leigos alicerçados na certeza de serem portadores também do sagrado, exercendo os dons e carismas do Espírito Santo) e a institucionalização do carisma”, tendo a RCC sucumbido “à rotinização e burocratização da sua capacidade de oposição ao sistema religioso estabelecido, tornando-se um movimento que vivencia o paradoxo entre a espontaneidade do carisma e a cooptação, mediante mecanismos de controle da instituição eclesial”[10].
Essa sua burocratização se revela na apologética postura do projeto Ofensiva Nacional que articula estratégias de expansão do movimento. Segundo Brenda, “tudo isso caracteriza a RCC como um movimento inclusivo, isto é, uma igreja dentro da Igreja; uma sociedade dentro da sociedade; um modelo de igreja que se basta a si mesma, levando o fiel a um encasulamento, a refugiar-se do mundo, no movimento. Além disso, a RCC, em nome da experiência do Espírito que diz possuir e da renovação que oferece, pretende ser, segundo algumas de suas lideranças, a expressão da totalidade da Igreja católica”[11].
Quando, finalmente, Brenda aborda as tendências da RCC, diz ela que é possível indicar o seguinte processo: a RCC procura 1) “revigorar a instituição eclesiástica da Igreja católica nos moldes de um catolicismo tradicional, constituindo-se no último suspiro do catolicismo romanizado nesta virada de milênio; 2) desencadear um processo sinérgico, mediante o uso do marketing religioso, que reforce um modelo de Igreja já centrada em si mesma, apologética, intolerante, não ecumênica, tradicionalista e centrípeta; 3) reforçar, por meio de sua mensagem religiosa, um catolicismo de temor e aflição, que fomente a confiança nas intervenções mágicas como solução de problemáticas históricas, fazendo da experiência religiosa uma recusa do mundo real; 4) sofrer um esgotamento em si mesma, devido aos seguintes sintomas: alto grau de burocratização; a possível disputa das lideranças para ocupar um espaço significativo na mídia; atrelamento de interesses do movimento com a política partidária; e abuso na manipulação da emoção, como recursos para atrair fregueses. Além do que, a RCC aposta na novidade ritual como recurso para atrair os fiéis. Mas esses fiéis poderão perceber que não há novidade na mensagem e poderão cansar-se do mesmo discurso. Portanto, é possível que o pentecostalismo católico esteja com seus dias contados e seja perene enquanto efêmero”[12].
A fala de Cecília Mariz foi sobre As diferenças e semelhanças de pentecostais e carismáticos brasileiros na sua luta contra o mal e o demônio. A conferencista estabeleceu “uma comparação quanto ao papel e o significado do demônio e da ‘libertação’ nas igrejas pentecostais clássicas (o caso da Assembleia de Deus) e nos grupos de oração carismática”. Discutiu “assim de forma comparativa o discurso sobre o demônio em cada um desses grupos e como se relaciona com questões outras tais como conversão, pecado, cura e ascensão social”[13].
Já Luiz Roberto Benedetti procurou oferecer um quadro teórico de reflexão sobre a experiência religiosa que teve por título: Entre a crença coletiva e a experiência individual: renascimento da religião. Diz Benedetti: “A minha intenção é apresentar um quadro interpretativo mais globalizante. Talvez tenha de terminar por uma pergunta: será possível uma interpretação globalizante da experiência religiosa hoje?”. E acrescenta: “O título desta conferência remete a uma pergunta fundamental que perpassará todas as reflexões: onde se radica o ‘social’, o coletivo da sociedade? Não será, no limite, a própria ideia de sociedade – esta entidade sacralizada pela teologia e pela ciência – a sociologia de Durkheim – que está em crise?”[14].
Benedetti percebe a religião cada vez mais como aparência fluida, desligada de um significado profundo, perdendo seu papel de valor totalizante da vida pessoal e social, crença coletiva e fonte de identidade. Assim a própria experiência religiosa é redefinida: tem caráter transitório, passageiro, superficial e efêmero.
Benedetti busca pistas em Durkheim: “Para ele a religião é essencialmente coletiva – sociedade sacralizada; na sociedade marcada pela divisão do trabalho esta se cultua através do culto à sacralidade do indivíduo, erigido como valor supremo. Não estaríamos atingindo o ápice deste processo? Isto é, o sagrado volatiliza-se das instituições, torna-se ‘disponível’ a qualquer ‘experiência’. O indivíduo o maneja a partir da situação social em que vive”[15].
3.2. Abordagem teológica
No dia 8 a Experiência Religiosa foi analisada pelos teólogos Mário de França Miranda, Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma; José Comblin, Doutor em Teologia pela Universidade de Louvain, Bélgica.; Carlos Mesters, Mestre em Ciências e Línguas Bíblicas pela École Biblique et Archéologique de Jerusalém.
À tarde, uma Mesa Redonda sobre Experiência e elaboração da Teologia foi constituída por Etienne Alfred Higuet, Doutor em Teologia; Walter Altmann, Doutor em Teologia pela Universidade de Hamburgo, Alemanha e Fernando Altmeyer Júnior, Mestre em Teologia pela Universidade de Louvain, Bélgica.
A conferência de Mário de França Miranda teve como título A experiência do Espírito Santo. Abordagem teológica, na qual o teólogo jesuíta destacou a experiência do Espírito Santo na Bíblia, a ação do Espírito refletida na ação humana, o discernimento quanto à atuação do Espírito e, finalmente, a atualidade do tema.
Segundo Mário de França Miranda, a reflexão proposta, “por dizer respeito à atuação do Espírito Santo, implica necessariamente a própria identidade da Terceira Pessoa da Trindade e, portanto, o ser mesmo de Deus. Não nos deve admirar, por conseguinte, que nossas conclusões tenham nos deixado insatisfeitos (…) A realidade misteriosa de Deus, que não se deixa dispor ou manipular, esteve presente ao longo de todo nosso estudo. Nossas palavras nada desvelaram, apenas apontaram para uma realidade que as ultrapassa. Contudo, nem por isso deixam de ser significativas para nós, pois nos oferecem um horizonte de compreensão que pode nos ajudar quando nos confrontamos com certas questões atuais. Escolhemos três que nos parecem muito importantes: a promoção da vida, a inculturação da fé e o diálogo inter-religioso”[16].
José Comblin, tratou da Experiência espiritual, o seu conteúdo, o seu alcance, a partir de três perspectivas: a teologia do Espírito Santo de H. Mühlen, a teologia ocidental tradicional revisada por K. Rahner e a teologia mística de J. Maréchal. O teólogo belga expôs a perspectiva de cada um dos teólogos citados e, em seguida, fez algumas reflexões atualizando a discussão em relação, especialmente, às experiências do Espírito Santo vivenciadas hoje pelos cristãos[17].
Carlos Mesters, na sua fala sobre o Espírito Santo na Bíblia, que teve por título Descobrir e discernir o rumo do Espírito. Uma reflexão a partir da Bíblia, nos diz que “a palavra Espírito aparece na Bíblia desde o começo do livro do Gênesis (Gn 1,2) até o fim do Apocalipse (Ap 22,17). Ela nem sempre tem o mesmo significado”[18]. Por isso, em sua exposição, o conhecido biblista apresentou alguns critérios para entendermos melhor o alcance das afirmações do NT sobre o Espírito Santo.
“As afirmações do NT sobre a vida no Espírito dizem respeito sobretudo à experiência das comunidades”, continua Mesters. “Nestas afirmações podemos distinguir vários níveis ou enfoques:
1) Um primeiro nível é o da descrição ou da verbalização da experiência. Ele deixa transparecer uma experiência comunitária vivida num sabor de total novidade que revolucionou a vida das pessoas, mas também trouxe surpresas, muitos problemas e não saber.
2) Um segundo nível ou enfoque é o do recurso a imagens e símbolos do AT para descrever a ação do Espírito. Aqui transparece o esforço dos primeiros cristãos para compreender a novidade da vida no Espírito a partir das categorias familiares da história do povo de Deus.
3) Um terceiro nível é o dos conselhos de orientação prática para saber como viver segundo o Espírito (Gl 5,16). Ele revela o esforço de descobrir o rumo do Espírito na vida das comunidades e de, assim poder discernir os espíritos, pois nem tudo que parecia ser do espírito era do Espírito de Jesus.
4) Finalmente, um quarto nível é o das afirmações e ensinamentos, tanto de Jesus como dos cristãos, sobre a origem ou a procedência do Espírito. É aqui que aparece a dimensão trinitária.
Na maioria dos textos, esses quatro níveis ou enfoques existem misturados entre si. Os três primeiros formam as três partes desta exposição, o quarto será a sua breve conclusão”[19].
Já na parte da tarde do dia 8, na Mesa Redonda sobre Experiência e elaboração da Teologia, Etienne Alfred Higuet falou sobre o processo que liga a experiência religiosa e a teologia a partir dos teólogos protestantes Schleiermacher, Tillich e Siegwalt[20].
Walter Altmann, teólogo luterano e presidente do CLAI (Conselho Latino-Americano das Igrejas), abordou o tema Experiência e teologia na tradição protestante, no qual destacou o seguinte: “O Protestantismo tem inerente à sua identidade, desde suas origens, uma tensão, que podíamos classificar de dialética, entre experiência e teologia (ou experiência e doutrina). Essa tensão é salutar e lhe dá vitalidade. Ainda assim, em sua trajetória histórica o Protestantismo tem sido suscetível à tentação quase que permanente de dissolver essa tensão, seja em favor da dimensão doutrinal, seja em favor da dimensão experiencial. Contudo, a memória de sua identidade mais profunda suscita a reação do polo oposto e, em seus melhores momentos, o restabelecimento da tensão dialética original”. E mais adiante observa: “Em um dos anos mais decisivos da Reforma, Lutero formulou uma tese interessante e que nos soa sumamente atual: ‘A experiência faz o teólogo'”[21].
Por último, Fernando Altmeyer Júnior abordou o tema da experiência religiosa e os meios de comunicação de massa, sob o título de Experiência e elaboração da Teologia: ver como somos vistos. Altmeyer assim precisou seu tema: “Minha contribuição nesta comunicação sobre ‘Experiência e elaboração da teologia’ pretende verificar, estudar e refletir sobre a comunicação social e o fenômeno pentecostal, de modo particular na vertente carismática. Verificaremos o fenômeno carismático-pentecostal e este seu BOOM na mídia brasileira, nos últimos três anos, com destaque para os recortes de jornais e revistas da grande imprensa da capital paulistana. Tomamos então matérias e manchetes publicadas pela grande imprensa escrita durante os anos de 1996, 1997 e 1998 e aparições na grande mídia televisiva neste ano de 1998”[22].
Altmeyer explicou em sua fala que “a revelação de Deus e a leitura da presença do Espírito Santo em movimentos sociais, eclesiais e populares, passa hoje inevitavelmente pelos meios de comunicação de massa. (…) Este grande fenômeno mundial e o próprio movimento carismático católico e seus líderes espirituais são vistos e lidos pelas Igrejas cristãs e pela sociedade civil por meio da imprensa, e esta faz sua leitura a partir de determinadas chaves jornalísticas e empresariais. Nem sempre ou raramente teológicas ou religiosas. (…) Quero me perguntar se esta ‘nova chave hermenêutica’ incide e de que forma no trabalho teológico, pois sabemos que ela modifica e polariza o próprio fenômeno, sua audiência coletiva e os próprios atores pentecostais. Como os teólogos profissionais levam em conta esta chave de leitura contemporânea? Vemos como somos vistos? Os carismáticos são entendidos, captados, ouvidos e vistos de forma transparente ou deformada, conformada ou adequada a que recorte epistemológico? No trabalho metodológico da teologia acadêmica e ecumênica que lugar devem ocupar as leituras da mídia impressa e televisiva? Seria esta uma nova tendência que está a aflorar no campo do trabalho teológico? Afinal, é, de fato, oportuno comunicar em teologia?”[23].
3.3. Abordagem prático-pastoral
No dia 09.07.1998 a abordagem do tema foi prático-pastoral. Na parte da manhã, guiados pelo lema Experiência religiosa e ação comunitária, falaram José Bittencourt Filho, Mestre em Teologia e Doutorando em Ciências Sociais pela PUC-SP; Alberto Antoniazzi, Doutor em Filosofia pela Universidade Católica de Milão, Itália; Cleto Caliman, Doutor em Teologia.
À tarde, uma Mesa Redonda sobre Experiência religiosa e ensino religioso nas escolas teve como participantes Carmencita Seffrin, Mestra em Teologia pela Universidade Santa Úrsula, RJ; Lurdes Caron, Mestra em Teologia e Risoleta Moreira Boscadin, especialista em Pedagogia para o Ensino Religioso.
José Bittencourt Filho, pastor da igreja Presbiteriana Unida do Brasil e editor da revista Tempo e Presença, abordou a questão do posicionamento do protestantismo histórico brasileiro quanto aos pentecostalismos sob o título de Os caçadores da identidade perdida: o protestantismo histórico brasileiro às voltas com os pentecostalismos. Assim disse José Bittencourt: “Intuímos que a melhor maneira de fazê-lo seria efetuar um apanhado da trajetória do Protestantismo tradicional brasileiro, sobremodo naqueles aspectos que dizem respeito à consolidação de sua identidade. Buscamos salientar as marchas e contramarchas desse processo, no intuito de construir uma perspectiva a partir de episódios marcantes que tornaram-se decisivos para conferir o perfil atual das Igrejas que aqui chegaram por meio de missões norte-americanas, na segunda metade do século passado”[24].
Sua exposição detalhou, numa primeira parte, “a aventura que consistiu a formulação de um projeto eclesiológico autóctone e comprometido para o assim chamado Protestantismo de Missão após o esgotamento do projeto original trazido na mala dos missionários”. Como o campo religioso brasileiro vive extraordinária efervescência, exercendo nele os pentecostalismos de todos os matizes um papel fundamental, “a título de cotejo, expusemos em seguida um interpretação do estado atual dos pentecostalismos. Isto posto encaminhamos algumas notas conclusivas que retomam a temática principal, sem deixar de, nas entrelinhas, arriscar algumas estimativas para o futuro próximo”[25].
Alberto Antoniazzi, Diretor do Instituto Nacional de Pastoral da CNBB e Coordenador do Curso de Teologia da Arquidiocese de Belo Horizonte e Cleto Caliman, Diretor do Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA) de Belo Horizonte discorreram, em seguida, sobre A pastoral católica: do primado da instituição ao primado da pessoa. Os dois teólogos organizaram sua exposição em três passos. Em suas palavras:
1) “Procuraremos caracterizar a ‘pastoral tradicional’, que é basicamente a pastoral pós-tridentina, especialmente na forma que assumiu no século que separa o Vaticano I do Vaticano II.
2) Tentaremos compreender de forma mais matizada a atual situação pastoral, caracterizada pela presença contemporânea dos dois pólos de que se falava no início: a herança do catolicismo tradicional e a experiência religiosa do indivíduo ‘moderno’. Para isso, faremos referência a uma pesquisa recente e inédita sobre a presença da Igreja Católica na Arquidiocese de Belo Horizonte.
3) Finalmente, apresentaremos o esboço de uma pastoral que tenha como eixo – hoje e amanhã – o primado da pessoa humana”[26].
Isto porque, segundo os conferencistas, “o perfil da pastoral católica hoje vacila entre dois eixos. Por um lado, está a continuidade – às vezes clara, outras latente – do projeto pastoral tradicional, embutido em tantas formas eclesiais onde a instituição é o eixo e o clero o seu promotor. Por outro lado, está a ruptura provocada pelos movimentos históricos ligados ao projeto da modernidade. Aí encontram-se muitas iniciativas pastorais com a marca do indivíduo, constituído juiz supremo nas coisas de religião, que instituem o caos pastoral”.
Segundo os dois teólogos, esses dois polos, por fazerem parte da realidade eclesial, não podem ser simplesmente abolidos. “O que um projeto pastoral pode e deve empreender consiste em fazer uma ponte entre os dois pilares, correlacionando-os devidamente, de modo a cimentar um caminho possível entre ambos. Entre o primado da instituição e o do indivíduo, o caminho é a afirmação do primado da pessoa como sujeito na Igreja”[27].
Na tarde do dia 9, na Mesa Redonda sobre Experiência religiosa e ensino religioso nas escolas, Carmencita Seffrin, Coordenadora do Ensino Religioso nas Escolas Municipais da cidade do Rio de Janeiro e Membro do Fórum Nacional de Ensino Religioso, relatou três experiências religiosas, duas em estabelecimentos de ensino e uma de uma professora, todas na cidade do Rio de Janeiro, que deram suporte a uma reflexão sobre o sentido do “conhecimento como parte da experiência e fundamental na experiência religiosa”[28]. Esta reflexão tem sua urgência face aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso que têm gerado muita controvérsia e perplexidade entre autoridades religiosas e docentes engajados no ensino escolar.
Lurdes Caron, Assessora da CNBB no Setor de Ensino Religioso, relatou, em seguida, uma “experiência religiosa vivenciada entre representantes de Igrejas e professores, envolvidos numa proposta ecumênica de educação, entre os anos que vão de 1970 a 1996” em Santa Catarina[29]. Segundo a Profa. Lurdes “fazer experiência religiosa numa proposta ecumênica de educação religiosa escolar é fazer a experiência de um ‘Deus grande, de um Deus maior, de um Deus infinito’. Experiência religiosa numa proposta ecumênica exige maturidade e identidade de fé. Exige diálogo, confiança, coragem, sinceridade, humildade e profunda espiritualidade. Exige mística[30].
Por fim, Risoleta Moreira Boscadin, Coordenadora da Associação Interconfessional de Curitiba (ASSINTEC), que assessora o Ensino Religioso nas Escolas Estaduais, falou da Experiência religiosa a partir do fenômeno amoroso. Seu relato englobou desde as dificuldades e possibilidades da experiência religiosa na escola, até as várias manifestações do “ser religioso” e suas características do ponto de vista do comportamento das pessoas. Comportamentos que ela caracterizou como de pessoas religiosas por tradição mas não praticantes, até pessoas praticantes de alguma tradição religiosa porém imaturas na fé, passando pelo tipo religioso eufórico e pelo tipo religioso coerente engajado. Daí que, segundo Risoleta, “a escola como espaço aberto a todos apresenta em seu bojo esses tipos de manifestações, por isso é possível refletir a experiência religiosa a partir do fenômeno amoroso, em uma abordagem pedagógica”[31].
3.4. Horizontes e perspectivas
Por fim, chegamos ao final da maratona, no dia 10, com a conferência conclusiva de Clodovis Boff, Doutor em Teologia pela Universidade de Louvain, Bélgica, e um dos mais destacados teólogos da libertação da América Latina. Sua tese de doutorado, Teologia e Prática: Teologia do Político e suas Mediações, publicada pela Vozes em 1978 e traduzida em alemão, francês e inglês, é um marco dos mais importantes no desenvolvimento da epistemologia teológica dos últimos anos. Clodovis é atualmente professor no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis/RJ, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Instituto Filosófico-Teológico Paulo VI de Nova Iguaçu/RJ e na Pontifícia Faculdade “Marianum” de Roma.
A tarefa confiada a Clodovis foi a de traçar A perspectiva da experiência religiosa para o novo milênio. Em sua palestra, proferida na manhã do dia 10.07.1998, o teólogo considerou válida a seguinte perspectiva: “Em vez de nos determos em problemáticas e enganosas prospecções futuristas, é melhor falarmos nas exigências da experiência da fé para o próximo milênio (…) Elencamos a seguir cinco blocos de exigências, ou cinco linhas de força espirituais, ou ainda cinco campos de tarefas necessárias e oportunas em vista da experiência religiosa (= ER) no próximo milênio”[32].
1. Reativar e aprofundar a experiência cristã originária
“Sente-se uma demanda aguda e crescente por um Cristianismo experiencial e vivencial. Não se quer mais saber de doutrinarismo, de juridicismo ou de moralismo, ainda que social. Há, pois, o imperativo de ‘volta às fontes’ do Cristianismo. Ora, suas fontes vivas são as fontes espirituais”[33].
2. Cultivar formas culturais novas de experiência religiosa
“Os traços dessa nova espiritualidade, adequada ao novo milênio, com suas virtudes e seus riscos, parecem ser os seguintes:
. Uma ER mais cotidiana, e menos extraordinária
. Uma ER mais acessível, e menos reservada a uma elite
. Uma ER mais individual, e menos padronizada
. Uma ER mais aberta ao diálogo, e menos confessionalista
. Uma ER mais holística, e menos parcializada”[34].
3. Recolocar a partir da experiência religiosa a questão do compromisso social
“Seja qual for a corrente de espiritualidade que se professe livremente dentro do pluralismo católico (libertadora ou carismática, tradicional ou moderna), uma coisa é certa: o cristão e a cristã têm de se haver doravante com a ‘questão social’. Por outras, a ER cristã do Terceiro Milênio estará necessariamente conectada com o tema dos excluídos. Ela terá de se posicionar diante do dramático desafio das massas excluídas”[35].
4. Renovar a eclesiologia em vista da experiência religiosa
“Se o grande desafio para a Igreja católica é crescer em espiritualidade, então questões como as da disciplina, organização e poder passam para a segunda, terceira ou enésima categoria, como as que esquentam hoje o debate intra-eclesial, especialmente na mídia, como as relativas ao celibato dos padres, ao sacerdócio das mulheres, à indissolubilidade do matrimônio, à comunhão dos divorciados, ao aborto, ao lugar dos gays na Igreja, à participação das bases no poder de decisão, à designação dos bispos etc. Não que essas não sejam questões importantes e por vezes dramáticas. Mas só podem ser corretamente equacionadas se forem tratadas a partir do ‘único necessário’, do primado do Reino e da justiça de Deus (cf. Mt 7,33: TEB)”. Isto significa:
. redescobrir a dimensão mistérica da Igreja
. aprofundar a dimensão comunional da Igreja a partir da comunhão trinitária. Portanto, rever a eclesiologia com o olho na ER significa também dar preferência à Igreja-comunidade sobre a Igreja-sociedade, ao ‘eclesial’ sobre o ‘eclesiástico’
. flexibilizar as estruturas eclesiais. Renovar a Igreja a partir e em função da ER implica em ‘aliviar’ suas estruturas de seu peso histórico e canônico. É, em suma, tornar as mediações eclesiais mais transparentes ao seu conteúdo nuclear, que é justamente o de ser comunidade graça e amor”[36].
5. Exigências teológico-pastorais
“Para a entrada do próximo milênio, sobe a demanda por uma reflexão teológica mais substantiva nas seguintes linhas”[37]:
. na linha da teologia espiritual
. na linha da teologia do Espírito
. na linha da teologia da Trindade
“Portanto, os três grandes temas teológicos do futuro serão, de modo interconectado, a Mística, o Espírito e o Mistério trinitário. Dos três, é a Pneumatologia que parece estar emergindo com vigor. Se o século XX foi chamado o ‘século da Igreja’, talvez o século XXI venha a ser o ‘século do Espírito'”[38].
> Este artigo foi publicado inicialmente em Cadernos do Cearp, Ribeirão Preto, n. 10, p. 47-61, 1998.
[1]. A SOTER “teve sua fundação em um Encontro de Teologia realizado em Vila Fátima, Justinópolis, município de Ribeirão das Neves nos arredores de Belo Horizonte – MG, de 25 a 28 de julho 1985. Para além das formalidades jurídicas registradas em cartório no dia 28 de setembro de 1985, todos os participantes deste Encontro são considerados “sócios fundadores”. Os Conselheiros Regionais da SOTER foram introduzidos na Diretoria a partir de 1987. O mandato da Diretoria foi inicialmente de dois anos. A partir de 1991 passou a ser de três anos, o que é atualmente vigente. O nome de fantasia “SOTER”, embora já utilizando anteriormente, só foi oficializado em 1990, substituindo a sigla S.T.C.R.” explica o Boletim n. 24.
[2]. Os Boletins da SOTER são regularmente distribuídos aos sócios(as) em forma impressa.
[3]. Este libreto apareceu também como Boletim n. 23.
[4]. O endereço da SOTER mudava para o local de onde provinha a diretoria. Agora é fixo em Belo Horizonte, na PUC-Minas.
[5]. MARIANO, R. Neopentecostalismo: novo modo de ser pentecostal. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito. São Paulo: SOTER/Paulinas, 1998, p. 35.
[6]. Idem, ibidem, p. 35-36.
[7]. CARRANZA, B. Renovação Carismática Católica: Origens, Mudanças e Tendências. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 39.
[8]. O padre Eduardo Dougherty é sacerdote jesuíta, norte-americano, nascido em 1941. Veio ao Brasil em 1966. Foi para o Canadá, em seguida, para fazer seus estudos teológicos em Toronto, tendo, nesta época, sua experiência de “Batismo no Espírito”, em Michigan, EUA, tornando-se carismático. De volta ao Brasil em 1969 passa a colaborar com o Pe. Haroldo Rahm, também jesuíta e carismático, no centro Kennedy, em Campinas, SP.
[9]. CARRANZA, B. o. c., p. 43.
[10]. Idem, ibidem, p. 48.
[11]. Idem, ibidem, p. 49.
[12]. Idem, ibidem, p. 58-59.
[13]. SOTER, Boletim n. 23.
[14]. BENEDETTI, L. R. Entre a crença coletiva e a experiência individual: renascimento da religião. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 62.
[15]. SOTER, Boletim n. 23.
[16]. DE FRANÇA MIRANDA, M. A experiência do Espírito Santo. Abordagem teológica. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 133.
[17]. Cf. COMBLIN, J. Experiência espiritual, o seu conteúdo, o seu alcance. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 139-148.
[18]. MESTERS, C. Descobrir e discernir o rumo do Espírito. Uma reflexão a partir da Bíblia. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 81.
[19]. Idem, ibidem, p. 81-82.
[20]. Cf. HIGUET, E. A. A experiência religiosa no método teológico. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 149-163.
[21]. ALTMANN, W. Experiência e Teologia na tradição protestante. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 165.
[22]. ALTMEYER JÚNIOR, F. Experiência e elaboração da teologia: ver como somos vistos. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 177.
[23]. Idem, ibidem, p. 176.
[24]. BITTENCOURT FILHO, J. Os caçadores da identidade perdida: o protestantismo histórico brasileiro às voltas com os pentecostalismos. Em DOS ANJOS, M. F., (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 211.
[25]. Idem, ibidem, p. 212.
[26]. CALIMAN, C. ; ANTONIAZZI, A. A Pastoral Católica: do primado da instituição ao primado da pessoa. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 230.
[27]. Idem, ibidem, p. 229.
[28]. SEFFRIN, C. Experiência religiosa, uma experiência de sentido. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 289.
[29]. CARON, L. Experiência religiosa numa proposta ecumênica de educação religiosa escolar. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 261.
[30]. Idem, ibidem, p. 273-274.
[31]. SOTER, Boletim n. 23.
[32]. BOFF, C. Perspectivas da experiência religiosa para o novo milênio. Em DOS ANJOS, M. F. (org.) Sob o Fogo do Espírito, p. 325-326.
[33]. Idem, ibidem, p. 326.
[34]. Idem, ibidem, p. 328-334.
[35]. Idem, ibidem, p. 334.
[36]. Idem, ibidem, p. 339-341.
[37]. Idem, ibidem, p. 342.
[38]. Idem, ibidem, p. 342.