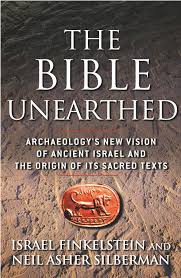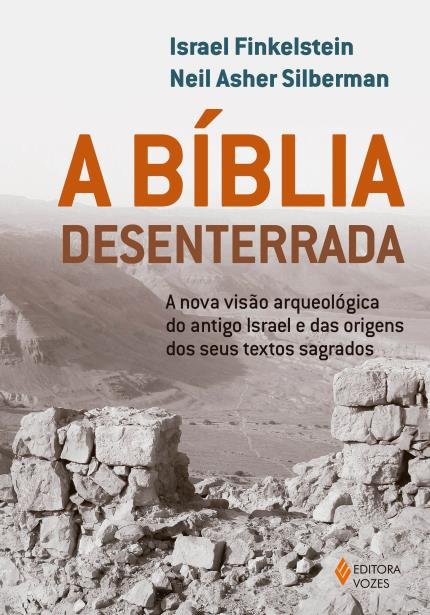Pentateuco: novos paradigmas
Novos paradigmas no estudo do Pentateuco
leitura: 28 min
Resumo
Este artigo desenha um panorama das mudanças pelas quais vem passando os estudos do Pentateuco desde a década de 70 do século XX, aponta as dificuldades que a crise vem criando e propõe algumas pistas de leitura para os interessados no assunto.
O conceito de paradigma, que hoje invade todos os campos do conhecimento, é de Thomas S. Kuhn. Em sua obra A estrutura das revoluções científicas, Kuhn trabalha “a ideia de que cada disciplina científica resolve os próprios problemas dentro de uma estrutura preestabelecida por pressupostos metodológicos, convenções linguísticas e experimentos exemplares. Em seu desenvolvimento, a ‘ciência normal’ assim constituída se choca com situações de crise, ou seja, confronta-se com a impossibilidade de resolver um número sempre maior de problemas na base do paradigma vigente”[1].
Desta crise deve nascer um novo paradigma que possui as características da inovação radical, pois ele se amolda aos problemas que estavam na base da crise, permitindo a sua solução, e reproduz novamente a estrutura do paradigma, devolvendo-o para a ciência como uma potência constituinte[2].
 Hoje muitos acreditam que esteja surgindo um novo paradigma nos estudos bíblicos. Em várias áreas dos estudos bíblicos. O tema é amplo. Entretanto, aqui abordarei apenas as questões relativas ao Pentateuco e, de passagem, alguns pontos da História de Israel.
Hoje muitos acreditam que esteja surgindo um novo paradigma nos estudos bíblicos. Em várias áreas dos estudos bíblicos. O tema é amplo. Entretanto, aqui abordarei apenas as questões relativas ao Pentateuco e, de passagem, alguns pontos da História de Israel.
Até meados da década de 70 do século XX havia razoável consenso nos estudos do Pentateuco e da História de Israel. Entre outras coisas, o consenso dizia que a Bíblia Hebraica era guia confiável para a reconstrução da história do antigo Israel. Dos Patriarcas a Esdras, tudo era histórico. Se algum dado arqueológico não combinava com o texto bíblico, arranjava-se uma interpretação diferente que o acomodasse ao testemunho dos textos, como no caso da destruição das (inexistentes) muralhas de Jericó pelo grupo de Josué[3].
É preciso lembrar, porém, que a historiografia alemã, desde W. de Wette, em 1806-7, passando por Julius Wellhausen, em 1894, até Martin Noth, em 1950, não participava integralmente deste consenso, negando, por exemplo, a historicidade dos patriarcas[4].
Mas, os estudos sobre o Pentateuco e a História de Israel estão tomando outros rumos. A teoria clássica das fontes JEP do Pentateuco, elaborada no século XIX por Hupfeld, Kuenen, Reuss, Graf e, especialmente, Wellhausen, vem sofrendo sérios abalos, de forma que hoje muitos pesquisadores consideram impossível assumir, sem mais, este modelo como ponto de partida. O consenso wellhauseniano sobre o Pentateuco foi rompido. As datas, origens e propostas das tradições que formam o Pentateuco estão sendo revistas. Por sua vez, a paráfrase racionalista do texto bíblico que constituía a base dos manuais de História de Israel não é mais aceita. A sequência patriarcas, José do Egito, escravidão, êxodo, conquista da terra, confederação tribal, império davídico-salomônico, divisão entre norte e sul, exílio e volta para a terra está despedaçada.
O uso dos textos bíblicos como fonte para a História de Israel é questionado por muitos. A arqueologia ampliou suas perspectivas e falar de ‘arqueologia bíblica’ hoje é proibido: existe uma ‘arqueologia da Palestina’, ou uma ‘arqueologia da Síria/Palestina’ ou mesmo uma ‘arqueologia do Levante’.
O uso de métodos literários sofisticados para explicar os textos bíblicos, afasta-nos cada vez mais do gênero histórico, e as ‘histórias bíblicas’ são abordadas com outros olhares. A ‘tradição’ herdada dos antepassados e transmitida oralmente até à época da escrita dos textos frequentemente não consegue provar sua existência.
A construção de uma História de Israel feita somente a partir da arqueologia e dos testemunhos escritos extrabíblicos é uma proposta cada vez mais tentadora. Uma História de Israel que dispense o pressuposto teológico de Israel como ‘povo escolhido’ ou ‘povo de Deus’ que sempre a sustentou. Uma ‘História de Israel e dos Povos Vizinhos’, melhor, uma ‘História da Síria/Palestina’ ou uma ‘História do Levante Sul’ parece ser o programa para os próximos anos.
E o Pentateuco?
Pois há pesquisadores de renome na área, como Rolf Rendtorff, que em 1993 já afirmava, com todas as letras: “Os problemas da interpretação do Pentateuco estão intimamente ligados aos problemas mais amplos da reconstrução da história de Israel e da história de sua religião (…) Não é por acaso que uma das mudanças mais importantes estejam ocorrendo com as hipóteses sobre as origens de Israel”. E completa: “Um dos muitos pontos de incerteza é a questão da identidade de Israel”[5].
Este artigo desenha um panorama destas mudanças pelas quais vem passando os estudos do Pentateuco (e da História de Israel) desde a década de 70 do século XX, aponta as dificuldades que a crise vem criando e propõe algumas pistas de leitura para os interessados no assunto[6].
1. Patriarcas? Que Patriarcas?
Em 1967, o norte-americano Thomas L. Thompson começou sua pesquisa na Universidade de Tübingen, na Alemanha. O tema: as narrativas patriarcais. Sua ideia fundamental: se algumas das narrativas sobre os patriarcas hebreus estavam se referindo historicamente ao segundo milênio a.C., como quase todos os arqueólogos e historiadores acreditavam naquela época, então Thompson poderia distinguir nelas as mais antigas histórias bíblicas da tradição posterior mais ampliada[7].
Quando Thompson começou seu trabalho, ele estava tão convencido da historicidade das narrativas sobre os patriarcas no Gênesis, que aceitou, sem questionar, os paralelos feitos entre os costumes patriarcais e os contratos familiares encontrados na cidade de Nuzi, no norte da Mesopotâmia, e datados da época do Bronze Recente (ca. 1500-1200 a.C.).
patriarcas no Gênesis, que aceitou, sem questionar, os paralelos feitos entre os costumes patriarcais e os contratos familiares encontrados na cidade de Nuzi, no norte da Mesopotâmia, e datados da época do Bronze Recente (ca. 1500-1200 a.C.).
Em Nuzi, habitada principalmente por hurritas, foram encontradas cerca de 3.500 tabuinhas cuneiformes, que cobrem a vida da comunidade e de cidades vizinhas ao longo de seis gerações. Especialmente significantes são as informações administrativas, sociais, econômicas e as descrições das práticas e estruturas jurídicas. É um material que ilustra brilhantemente a vida diária de uma comunidade da metade do segundo milênio a.C. [8].
Dois anos mais tarde, porém, em 1969, Thompson percebeu que os costumes familiares de Nuzi e as leis sobre propriedades não eram exclusivos nem de Nuzi, nem do segundo milênio, mas, mais provavelmente, refletiam práticas típicas do primeiro milênio a.C. Isto quebrava o paralelismo feito pelos autores entre Nuzi e o mundo patriarcal e tirava a garantia de que os costumes patriarcais refletiam práticas do segundo milênio.
Um bom exemplo desse paralelismo pode ser lido no comentário de SPEISER[9], na clássica coleção The Anchor Bible, no qual o autor discute cerca de 20 coincidências entre os costumes patriarcais e os costumes de Nuzi, como os casos da esposa-irmã Sara (Gn 12,10-20 e paralelos), a adoção de um estrangeiro, Eliezer, como herdeiro (Gn 15,2) ou a mãe de aluguel como Agar (Gn 16,1-6)[10].
Além do mais, examinando a ‘hipótese amorita’, segundo a qual teria havido grande migração de nômades vindos das fronteiras do deserto siro-arábico para a Mesopotâmia e para a Síria-Palestina no final do terceiro milênio, Thompson percebeu que não havia prova alguma para tal pressuposto, pois o que se descobriu nos últimos anos é que os amoritas são sedentários do norte da Mesopotâmia, vivendo da agricultura e da criação de gado. Isto é testemunhado pelas centenas de povoados espalhados do Eufrates até os vales dos rios Khabur e Balikh e datados pelos arqueólogos como existentes desde o Calcolítico. O crescimento populacional dos amoritas deve ter provocado a ampliação de seus territórios e a ocupação de várias cidades da região. Além do que, muitas das mudanças ocorridas em todo o Antigo Oriente Médio que antes eram atribuídas a invasões mal documentadas de povos, podem ser explicadas, hoje, mais cientificamente, pelas mudanças climáticas na região, sujeita a períodos de secas prolongadas e devastadoras[11].
Thompson passou, então, a defender que as narrativas patriarcais estavam refletindo muito mais o primeiro do que o segundo milênio, e a datação tradicional dos patriarcas e sua historicidade caíram por terra. Como comenta Walter Vogels, “após um século de pesquisa, voltou-se ao ponto de partida. Thompson afirma, em 1974, o que Wellhausen propusera em 1878. Poderíamos dizer que Thompson é um Wellhausen redivivus”[12].
![THOMPSON, T. L. The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham, Berlin: Walter de Gruyter [1974], 2016. THOMPSON, T. L. The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham, Berlin: Walter de Gruyter [1974], 2016.](https://airtonjo.com/site1/wp-content/uploads/2020/09/thomasthompson-3-189x300.jpg) O resultado de tal conclusão foi academicamente desastroso. Thompson, que terminou a pesquisa em 1971, não pôde defender sua tese na Europa. A tese só foi publicada em 1974 e Thompson só conseguiu seu PhD na Temple University, Philadelphia, Estados Unidos, em 1976[13].
O resultado de tal conclusão foi academicamente desastroso. Thompson, que terminou a pesquisa em 1971, não pôde defender sua tese na Europa. A tese só foi publicada em 1974 e Thompson só conseguiu seu PhD na Temple University, Philadelphia, Estados Unidos, em 1976[13].
John Van Seters, de quem falaremos mais detalhadamente no próximo item a propósito do Javista, pesquisando a historicidade dos patriarcas, independente de Thomas L. Thompson, chegou a conclusões semelhantes, não atribuindo qualquer valor histórico às histórias sobre Abraão.
Mais uma vez, citando Walter Vogels, conclui-se, a propósito da historicidade dos patriarcas: “Thompson e Van Seters concordam, portanto, em que não se pode afirmar que os relatos dos patriarcas remontam a tradições históricas, e que os patriarcas sejam personagens históricos. As tradições bíblicas sobre os patriarcas não têm uma perspectiva histórica, mas perspectivas ideológicas, sociológicas, políticas e religiosas[14]”.
Entretanto, salienta o autor, estes estudos não convenceram todos os historiadores: “Vários pesquisadores mostraram os pontos fracos das análises de Thompson e Van Seters e insistiram no caráter arcaico dos textos e em seu conteúdo histórico. Eles afirmam que os patriarcas não são meras invenções literárias. Mas os estudos de Thompson e Van Seters vêm com certeza frear e nuançar um entusiasmo demasiado rápido para ‘provar’ o valor histórico dos textos e a historicidade dos patriarcas”[15].
Em 1987 Thomas L. Thompson começou a trabalhar a questão das origens de Israel, retomando a argumentação publicada em um artigo de 1978, sob o título de “O Background dos Patriarcas” no Journal for the Study of the Old Testament, da editora Sheffield, Reino Unido[16]. Neste artigo, Thompson localizava as origens de um Israel histórico na região montanhosa ao norte de Jerusalém durante o século IX a.C. Isto implicava a exclusão de qualquer unidade política de Israel que abrangesse toda a Palestina, ou seja, não podia ter existido uma ‘Monarquia Unida’ sob Saul, Davi e Salomão em Jerusalém, no século X a.C.
O estudo completo resultou no livro Early History of the Israelite People from the Written and Archaeological Sources [Antiga História do Povo Israelita a partir de Fontes Escritas e Arqueológicas], Leiden, Brill, 1992 [2. ed.:1994]. Diz Thompson que a reação a este livro foi pior do que à tese sobre os patriarcas, levando ao afastamento do autor da Marquette University, nos Estados Unidos, onde trabalhava.
Mas em 1993 Thompson foi convidado para trabalhar no Departamento de Estudos Bíblicos da Universidade de Copenhague, onde até hoje se encontra, e onde encontrou um grupo com ideias avançadas sobre a ‘História de Israel’, os hoje chamados ‘minimalistas’.
2. Van Seters reinventa o javista
Ainda em 1964, o canadense John Van Seters aceita o desafio de um seu professor e começa a revisão da ‘Hipótese Documentária’ do Pentateuco, examinando as tradições sobre Abraão.
A ‘Hipótese Documentária’ afirmava, desde o século XIX, que o Pentateuco era composto pelas fontes JEDP – Javista, Eloísta, Deuteronômio e Sacerdotal, elaboradas desde o século X a.C. na corte davídico-salomônica até o século V a.C., com Esdras, na Jerusalém pós-exílica.
F. V. Winnet, professor de Van Seters, em conferência feita em 1964, levantou uma série de dúvidas sobre os fundamentos da Hipótese Documentária. Winnet não aceitava a fonte E como um documento independente. Quando muito, admitia o pesquisador, ela poderia ser uma revisão de mais antiga tradição patriarcal e não poderia ser encontrada no Êxodo e Números. Isto porque o desenvolvimento literário do Gênesis teria ocorrido de modo independente de Êxodo e Números até o estágio final da composição do Pentateuco, quando então foram organizados e combinados pelo Sacerdotal (P). Assim, duas diferentes fontes deveriam ser vistas dentro do material J do Gênesis: uma mais antiga e outra da época do exílio. Com um detalhe: estas fontes não seriam documentos independentes, mas complementos de outras mais antigas. O mesmo deveria ser dito do P.
fundamentos da Hipótese Documentária. Winnet não aceitava a fonte E como um documento independente. Quando muito, admitia o pesquisador, ela poderia ser uma revisão de mais antiga tradição patriarcal e não poderia ser encontrada no Êxodo e Números. Isto porque o desenvolvimento literário do Gênesis teria ocorrido de modo independente de Êxodo e Números até o estágio final da composição do Pentateuco, quando então foram organizados e combinados pelo Sacerdotal (P). Assim, duas diferentes fontes deveriam ser vistas dentro do material J do Gênesis: uma mais antiga e outra da época do exílio. Com um detalhe: estas fontes não seriam documentos independentes, mas complementos de outras mais antigas. O mesmo deveria ser dito do P.
Embora a proposta de Winnet não tenha causado repercussão, Van Seters, examinando as tradições sobre Abraão, como dissemos, percebeu que episódios paralelos – como a história de Sara “irmã” de Abraão em Gn 12,10-20;20,1-18;26,1-11 – não são documentos independentes agrupados por redatores, mas sua relação é de complementação: Gn 12,1-20 corresponde ao J mais antigo de Winnet, Gn 20, 1-18 ao complemento E e Gn 26,1-11 ao J mais recente da proposta do professor.
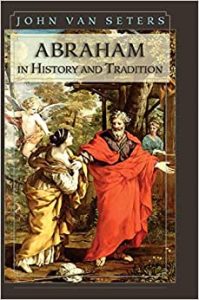 Van Seters concluiu também que o material atribuído ao J mais antigo era muito pequeno, que o E consistia de uma única estória e que todo o material não-P pertencia ao javista mais recente.
Van Seters concluiu também que o material atribuído ao J mais antigo era muito pequeno, que o E consistia de uma única estória e que todo o material não-P pertencia ao javista mais recente.
Percebendo igualmente a forte afinidade do J com o Dêutero-Isaías, e também que a forma da promessa da terra no J era um desenvolvimento posterior daquela encontrada no Deuteronômio e na tradição deuteronomista, Van Seters concluiu que o J deveria ser visto como um autor pós-D, e que a ‘Hipótese Documentária’ deveria ser totalmente revista. Van Seters publicou sua pesquisa em 1975[17].
3. Schmid e Rendtorff: a explosão da crise do Pentateuco
Em 1976 e em 1977 apareceram os livros de Hans Heinrich Schmid (1937-2014) e de Rolf Rendtorff (1925-2014) sobre o mesmo assunto. A crise do Pentateuco explodiu, então, em plena luz do dia e ninguém mais podia  escapar da constatação de que a teoria clássica das fontes do Pentateuco, pelo menos em sua forma mais rígida, era insustentável.
escapar da constatação de que a teoria clássica das fontes do Pentateuco, pelo menos em sua forma mais rígida, era insustentável.
H. H. Schmid, em 1976, contestou a tese de G. Von Rad de um ‘Iluminismo Salomônico’, do qual não se percebia nenhum sinal, como o ambiente no qual o javista teria nascido. Examinando uma série de textos amplamente aceitos como javistas, Schmid procurou mostrar que o J dependia fortemente da tradição profética e estava muito próximo da escola deuteronômica. A conclusão a que se chegou foi de que o Pentateuco era o produto do movimento profético, assim como o era o livro do Deuteronômio, e de que o J deveria ser visto em estreita associação com a escola deuteronômica nos últimos anos da monarquia ou na época do exílio[18].
Embora não tenha discutido a datação do J em relação ao D, seu discípulo Martin Rose, em 1981, chegou à conclusão de que o Deuteronômio e a Obra Histórica Deuteronomista eram anteriores ao javista[19].
 Rolf Rendtorff, por sua vez, em 1977, retomando a ideia de M. Noth da formação do Pentateuco a partir de temas independentes, chega à conclusão de que tal independência não deve ser limitada ao período pré-literário, mas o alcança. Rendtorff não vê nenhuma conexão original entre Gênesis e Êxodo-Números, mas sim uma posterior costura deuteronomista ligando estas tradições. Donde se conclui que a ideia de fontes, tal como a J, deve ser abandonada, e que o desenvolvimento dos temas é que deve ser enfocado: “Cada unidade maior teve seu próprio processo de redação antes de ser colocada em contato com outras unidades”, defende[20]. Seu aluno Ehard Blum, mais tarde, confirma as intuições de seu mestre estudando as tradições patriarcais de Gn 12-50[21].
Rolf Rendtorff, por sua vez, em 1977, retomando a ideia de M. Noth da formação do Pentateuco a partir de temas independentes, chega à conclusão de que tal independência não deve ser limitada ao período pré-literário, mas o alcança. Rendtorff não vê nenhuma conexão original entre Gênesis e Êxodo-Números, mas sim uma posterior costura deuteronomista ligando estas tradições. Donde se conclui que a ideia de fontes, tal como a J, deve ser abandonada, e que o desenvolvimento dos temas é que deve ser enfocado: “Cada unidade maior teve seu próprio processo de redação antes de ser colocada em contato com outras unidades”, defende[20]. Seu aluno Ehard Blum, mais tarde, confirma as intuições de seu mestre estudando as tradições patriarcais de Gn 12-50[21].
4. Van Seters amplia seu estudo sobre o javista
Van Seters, por seu lado, estendeu seu estudo sobre o J a todo o Tetrateuco e defendeu, em livros publicados em 1992 e 1994, que o Javista compõe uma obra unificada que vai da criação do mundo até a morte de Moisés. 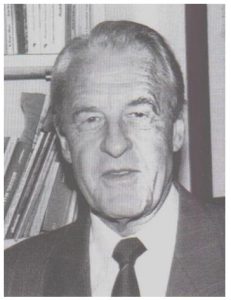 O J faz o trabalho de um historiador – semelhante ao trabalho do historiador grego Heródoto – no qual ele se baseia em fontes orais e escritas, dando-lhe, porém um significado teológico próprio.
O J faz o trabalho de um historiador – semelhante ao trabalho do historiador grego Heródoto – no qual ele se baseia em fontes orais e escritas, dando-lhe, porém um significado teológico próprio.
O objetivo da obra do J é o de corrigir o nacionalismo e o ritualismo da Obra Histórica Deuteronomista, da qual ela é uma espécie de introdução. Por isso, o Javista é posterior ao Deuteronômio e à Obra Histórica Deuteronomista, sendo contemporâneo do Dêutero-Isaías e tendo afinidades com Jeremias e com Ezequiel. Mas é anterior ao Sacerdotal (P), que, por sua vez, não é uma obra independente, mas uma série de suplementos pós-exílicos ao D+J. O Eloísta (E) não se sustenta como documento independente e desaparece[22].
Van Seters conclui: “Deste modo, eu procuro resolver o problema existente entre os argumentos de Noth a favor de um Tetrateuco separado do D/OHDtr e a insistência de Von Rad em um Hexateuco, com Josué como o objetivo das promessas patriarcais. Já que o J era posterior ao D/OHDtr, ele ligou as duas grandes obras e acrescentou sua própria conclusão final ao Hexateuco através do segundo discurso de Josué em Js 24”[23].
5. Finkelstein & Silberman colocam o Pentateuco na época de Josias
Israel Finkelstein, autor de importantes estudos no campo da arqueologia da Palestina, foi o Diretor do Instituto de Arqueologia Sonia e Marco Nadler da Universidade de Tel Aviv, Israel, de 1996 a 2003, e Diretor das ![RENDTORFF, R. Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. Berlin: Walter de Gruyter, [1977] 2015. RENDTORFF, R. Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. Berlin: Walter de Gruyter, [1977] 2015.](https://airtonjo.com/site1/wp-content/uploads/2020/09/rolfrendtorff-3-189x300.jpg) escavações de Tel Meguido. Ganhou em 2005 o prêmio Dan David. É o titular da Cátedra Jacob M. Alkow de Arqueologia de Israel nas Idades do Bronze e do Ferro da mesma Universidade. Neil Asher Silberman é Professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Massachusetts-Amherst, nos Estados Unidos.
escavações de Tel Meguido. Ganhou em 2005 o prêmio Dan David. É o titular da Cátedra Jacob M. Alkow de Arqueologia de Israel nas Idades do Bronze e do Ferro da mesma Universidade. Neil Asher Silberman é Professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Massachusetts-Amherst, nos Estados Unidos.
Pois estes dois são atualmente os autores do mais envolvente e debatido livro que trata da História de Israel e do Pentateuco[24]. A obra, de 385 páginas, publicada em 2001, contém 12 capítulos agrupados em três partes, um epílogo, 7 apêndices – que retomam e aprofundam temas tratados ao longo do texto – uma bibliografia, um índice de nomes e lugares, além dos tradicionais prólogo e introdução. Donos de prosa refinada, os autores tomam cuidadosamente o leitor pela mão e o conduzem em aventura fascinante através do mundo do Antigo Israel[25].
No Prólogo os autores propõem que o mundo em que a Bíblia nasceu foi o da Jerusalém da reforma do rei Josias no século VII a. C. O núcleo histórico da Bíblia, pelo menos – e isto implica o Pentateuco e a Obra Histórica Deuteronomista – nasceu nas ruas de Jerusalém, nos pátios do palácio real da dinastia davídica e no Templo do Deus de Israel, em parte de materiais tradicionais herdados, em parte de composições originais da época.
Nas palavras dos autores: “A saga histórica contida na Bíblia – do encontro de Abraão com Deus e sua jornada para Canaã, da libertação mosaica dos filhos de Israel da escravidão até a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá – não foi uma revelação miraculosa, mas um brilhante produto da imaginação humana. Ela foi concebida pela primeira vez – como as recentes descobertas arqueológicas sugerem – no espaço de duas ou três gerações, a cerca de dois mil e seiscentos anos atrás. Seu berço foi o reino de Judá, uma região escassamente povoada por pastores e agricultores, governada por uma isolada cidade real precariamente encravada no coração da região montanhosa sobre um estreito cume, entre profundos, rochosos desfiladeiros”[26].
para Canaã, da libertação mosaica dos filhos de Israel da escravidão até a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá – não foi uma revelação miraculosa, mas um brilhante produto da imaginação humana. Ela foi concebida pela primeira vez – como as recentes descobertas arqueológicas sugerem – no espaço de duas ou três gerações, a cerca de dois mil e seiscentos anos atrás. Seu berço foi o reino de Judá, uma região escassamente povoada por pastores e agricultores, governada por uma isolada cidade real precariamente encravada no coração da região montanhosa sobre um estreito cume, entre profundos, rochosos desfiladeiros”[26].
Uma cidade que pareceria extremamente modesta aos olhos de um observador moderno, com seus cerca de 15 mil habitantes, com bazares e casas amontoadas a oeste e sul de um modesto palácio real e seu Templo. Entretanto, no século VII a. C., esta cidade fervilhava com uma agitada população de oficiais reais, sacerdotes, profetas, refugiados e camponeses privados de suas terras. Uma cidade consciente de sua história, identidade, destino e relação direta com Deus.
Esta visão da antiga Jerusalém e das circunstâncias que deram origem à Bíblia, insistem os autores, é proveniente das recentes descobertas arqueológicas. Descobertas que “revolucionaram o estudo do Israel primitivo e lançaram sérias dúvidas sobre as bases históricas das tão famosas histórias bíblicas como as peregrinações dos patriarcas, o Êxodo do Egito, a conquista de Canaã e o glorioso império de Davi e Salomão”[27].
É isto que os autores deste livro pretendem contar: “A estória do antigo Israel e o nascimento de suas escrituras sagradas a partir de uma nova perspectiva, uma perspectiva arqueológica”. Os autores pretendem separar história de lenda. Enfim, declaram, seu propósito não é simplesmente desmontar conhecimentos ou crenças, mas partilhar as mais recentes percepções arqueológicas “não apenas sobre o quando, mas também sobre o porquê a Bíblia foi escrita, e porque ela permanece tão poderosa ainda hoje” [28].
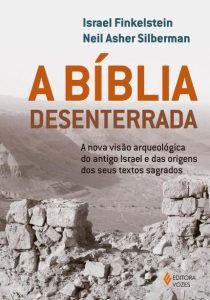 Na Introdução, após esboçarem a história da pesquisa do Pentateuco e da OHDtr, os autores continuam definindo, em gradual aproximação, a sua perspectiva que é: a arqueologia oferece hoje evidência suficiente para que se sustente uma nova proposta. Proposta que diz ter sido o núcleo histórico do Pentateuco e da OHDtr modelado no século VII a. C.
Na Introdução, após esboçarem a história da pesquisa do Pentateuco e da OHDtr, os autores continuam definindo, em gradual aproximação, a sua perspectiva que é: a arqueologia oferece hoje evidência suficiente para que se sustente uma nova proposta. Proposta que diz ter sido o núcleo histórico do Pentateuco e da OHDtr modelado no século VII a. C.
“Nós focalizaremos o Judá do final do século VIII e do século VII a. C., quando este processo literário começou para valer, e argumentaremos que a maior parte do Pentateuco é uma criação da monarquia recente, elaborado em defesa da ideologia e necessidades do reino de Judá, e, como tal, está intimamente associado à História Deuteronomista. E nos alinharemos com aqueles estudiosos que argumentam que a História Deuteronomista foi compilada, principalmente, no tempo do rei Josias [640-609 AEC], para oferecer uma legitimação ideológica para ambições políticas e reformas religiosas específicas”[29].
Bibliografia
DA SILVA, A. J. A História de Israel no debate atual, artigo disponível na Ayrton’s Biblical Page.
DA SILVA, A. J. A História de Israel na Pesquisa Atual, em FARIA, J. de Freitas (org.) História de Israel e as pesquisas mais recentes. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 43-87.
DA SILVA, A. J. O Pentateuco e a História de Israel, em TRASFERETTI, J.; LOPES GONÇALVES, P. S. (orgs.) Teologia na Pós-Modernidade. Abordagens epistemológica, sistemática e teórico-prática. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 173-215.
DE PURY, A. (org.) O Pentateuco em questão: As origens e a composição dos cinco primeiros livros da Bíblia à luz das pesquisas recentes. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
DOZEMAN, T. B.; RÖMER, T.; SCHMID, K. (eds.) Pentateuch, Hexateuch, or Enneateuch? Identifying Literary Works in Genesis through Kings. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2011. Disponível online.
DOZEMAN, T. B.; SCHMID, K. (eds.) A Farewell to the Yahwist? The Composition of the Pentateuch in Recent European Interpretation. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2006. Disponível online.
DOZEMAN, T. B. The Pentateuch: Introducing the Torah. Minneapolis: Fortress Press, 2017.
FINKELSTEIN, I. ; SILBERMAN, N. A. A Bíblia desenterrada: A nova visão arqueológica do antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados. Petrópolis: Vozes, 2018.
FINKELSTEIN, I.; SILBERMAN, N. A. A Bíblia não tinha razão. São Paulo: A Girafa, 2003.
FREEDMAN, D. N. (ed.) The Anchor Bible Dictionary on CD-ROM. New York: Doubleday & Logos Library System [1992], 1997.
GERTZ, J. C.; SCHMID, K. ; WITTE, M. (eds.) Abschied vom Jahwisten: Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion. Berlin: Walter de Gruyter, 2002.
LEMCHE, N. P. The Israelites in History and Tradition. Louisville: Westminster John Knox Press, 1998.
LONG, V. P. (ed.) Israel’s Past in Present Research: Essays on Ancient Israelite Historiography. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1999.
RENDTORFF, R. Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. Berlin: Walter de Gruyter, 1977.
SCHMID, H. H. Der sogenannte Jahwist. Zürich: Theologischer Verlag, 1976.
SPEISER, E. A. Genesis. Garden City, New York: Doubleday, 1964.
THOMPSON, T. L. The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham, Berlin: Walter de Gruyter, [1974] 2016.
THOMPSON, T. L. Early History of the Israelite People from the Written and Archaeological Sources. 2. ed. Leiden: Brill [1992], 2000.
THOMPSON, T. L. The Mythic Past: Biblical Archaeology and the Myth of Israel. New York: Basic Books, 1999.
SKA, J.-L. Introdução à leitura do Pentateuco: chaves para a interpretação dos cinco primeiros livros da Bíblia. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2014.
SKA, J.-L. O canteiro do Pentateuco: problemas de composição e de interpretação/aspectos literários e teológicos. São Paulo: Paulinas, 2016.
VAN SETERS, J. Abraham in History and Tradition. New Haven: Yale University Press, 1975 e Brattleboro, VT: Echo Point Books & Media, 2014.
VAN SETERS, J. My Life and Career as a Biblical Scholar. Eugene, OR: Cascade Books, 2018.
VAN SETERS, J. Prologue to History: The Yahwist as Historian in Genesis. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 1992.
VAN SETERS, J. The Life of Moses: The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 1994.
VAN SETERS, J. The Pentateuch: A Social-Science Commentary. 2. ed. London: Bloomsbury T & T Clark, 2015.
VOGELS, W. Abraão e sua Lenda: Gênesis 12,1-25,11. São Paulo: Loyola, 2000.
WINNET, F. V. Re-Examining the Foundations. Journal of Biblical Literature, 84, n. 1, p. 1-19, 1965.
ZEVIT, Z. Three Debates about Bible and Archaeology. Biblica, Roma, 83, p. 1-27, 2002.
>> Bibliografia atualizada em 24.07.2024
> Uma primeira versão deste texto foi escrita em 2007. Revisto e atualizado em 2024.
- NEGRI, A. Revoluções de Kuhn. In: Folha de São Paulo, 28.07.96, 5.11. Cf. KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2017, especialmente as páginas 217-257. ↑
- Cf. NEGRI, A. Idem, ibidem. ↑
- Estou me inspirando no artigo de RENDSBURG, G. A. Down with History, Up with Reading: The Current State of Biblical Studies, em At the Cutting Edge of Jewish Studies, no qual o autor lamenta e critica, em conferência pronunciada no Departamento de Estudos Judaicos da McGill University, Canadá, em maio de 1999, a ruptura do consenso que passo a descrever. ↑
- Cf., sobre isso, LEMCHE, N. P. The Israelites in History and Tradition. Louisville: Westminster John Knox Press, 1998, p. 150. Dos três autores citados, podem ser consultadas as seguintes obras: WETTE, W. M. L. DE Beiträge zur Einleitung in das Alte Testament, Zweiter Band. Halle: Schimmelpfennig und Compagnie, 1807; WELLHAUSEN, J. Prolegomena zur Geschichte Israel. Nachdruck der 6. Auflage. Berlin: Walter de Gruyter, 2001 (em inglês: Prolegomena to the History of Israel. Scholars Press, 1994; este texto pode ser lido online aqui; NOTH, M. Geschichte Israels. 10 ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, [1950] 1986 (em inglês: The History of Israel. 2. ed. New York: Harper & Brothers, 1960). ↑
- RENDTORFF, R. The Paradigm is Changing: Hopes and Fears. In: LONG, V. P. (ed.) Israel’s Past in Present Research: Essays on Ancient Israelite Historiography. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1999, p. 60-61. O artigo de Rendtorff, exegeta alemão, professor em Heidelberg, foi reimpresso da revista Biblical Interpretation 1 (1993), p. 34-53. ↑
- Para um tratamento mais detalhado do tema, recomendo a leitura cuidadosa de meu artigo A História de Israel no debate atual, disponível na Ayrton’s Biblical Page. ↑
- Cf. THOMPSON, T. L. The Mythic Past: Biblical Archaeology and the Myth of Israel. New York: Basic Books, 1999, p. XI. ↑
- Cf. FREEDMAN, D. N. (ed.) The Anchor Bible Dictionary on CD-ROM. New York: Doubleday & Logos Library System, [1992] 1997, verbete Nuzi. ↑
- SPEISER, E. A. Genesis. Garden City, New York: Doubleday, 1964. ↑
- Estes e outros exemplos podem ser mais facilmente vistos em VOGELS, W. Abraão e sua Lenda: Gênesis 12,1-25,11. São Paulo: Loyola, 2000, p. 38-45. ↑
- Cf. FREEDMAN, D. N. (ed.) The Anchor Bible Dictionary on CD-ROM, verbete Amorites; THOMPSON, T. L. The Mythic Past, p. 101-225. ↑
- VOGELS, W. Abraão e sua Lenda, p. 31. ↑
- O livro de Thomas L. Thompson: The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham. Berlin: Walter de Gruyter, [1974] 2016. Leia mais sobre isto em On the Problem of Critical Scholarship: A Memoire, artigo de Thomas L. Thompson publicado na revista online The Bible and Interpretation em abril de 2011. ↑
- VOGELS, W. Abraão e sua Lenda, p. 31. ↑
- Idem, ibidem, p. 31. Vogels mantém uma postura moderada nesta questão: “Entre a atitude fundamentalista, que toma tudo ao pé da letra, como fatos históricos, e a atitude cética, que considera tudo como mera imaginação, as pesquisas sérias nos convidam a tomar uma posição intermediária”, diz o autor na p. 54 (o original deste livro foi publicado em 1996 em Montreal e Paris). Outra postura ‘prudente’ é a de Albert de Pury, que pode ser vista em seu texto A tradição patriarcal em Gênesis 12-35, em DE PURY, A. (org.) O Pentateuco em questão: as origens e a composição dos cinco primeiros livros da Bíblia à luz das pesquisas recentes. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 206-216 (a obra original foi publicada em Genebra em 1989). Entre os defensores das posturas tradicionais sobre o Pentateuco (e a História de Israel!) podem ser citados Frank Moore Cross e Harvard School, herdeiros, nos Estados Unidos, de ideias albrightianas, conforme VAN SETERS, J. The Pentateuch: A Social-Science Commentary. 2. ed. London: Bloomsbury T & T Clark, 2015, p. 53-57. Em sua autobiografia, publicada em 2018, diz Van Seters: “Os dois livros, o de Tom [Thomas L. Thompson] e o meu, ficaram conhecidos como o ataque de Thompson-Van Seters à história bíblica, e a Escola Albright e seus simpatizantes partiram para o contra-ataque. O livro muito popular, A História de Israel, de John Bright, aluno de Albright, teve uma nova edição após o aparecimento de nossos livros; ele os notou, mas os dispensou sem discussão e com o breve comentário de que “é duvidoso que suas posições obtenham aceitação geral ou duradoura”. Na verdade, ele estava completamente errado. Não demorou muito para que surgissem outras histórias e introduções nas quais nossa posição fosse prontamente aceita. A resistência mais duradoura veio da turma da arqueologia bíblica que vendia seus empreendimentos arqueológicos para apoiadores leigos, afirmando que eles estavam de fato descobrindo a história bíblica, e qualquer coisa que diminuísse a quantidade de conteúdo histórico da Bíblia era ruim para os negócios e para a arrecadação de fundos para suas atividades. Os cristãos e judeus conservadores, que faziam uso da arqueologia bíblica para apoiar a sua crença na historicidade da Bíblia, tendiam a difamar-me, embora soubessem pouco sobre mim ou sobre o meu passado evangélico” (VAN SETERS, J. My Life and Career as a Biblical Scholar. Eugene, OR: Cascade Books, 2018, Chapter 2: Toronto Years, 1970–1977). ↑
- O estudo foi relançado em livro. Cf. THOMPSON, T. L. The Background of the Patriarchs: A Reply to William Dever and Malcolm Clark. In: ROGERSON, J. W. The Pentateuch: A Sheffield Reader. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996, p. 33-74. ↑
- Cf. VAN SETERS, J. Abraham in History and Tradition. New Haven: Yale University Press, 1975. Cf., para a exposição acima, VAN SETERS, J. The Pentateuch: A Social-Science Commentary, p. 59-60. A conferência de F. V. Winnet, foi Re-Examining the Foundations. Journal of Biblical Literature, Vol. 84, No. 1 (Mar., 1965), p. 1-19. O texto foi apresentado como fala do presidente no Congresso da Society of Biblical Literature (SBL) de 1964 em Nova York e está disponível para download em pdf aqui. ↑
- Cf. SCHMID, H. H. Der sogenannte Jahwist. Zürich: Theologischer Verlag, 1976. Cf. uma exposição do pensamento de Schmid em DE PURY, A. (org.) O Pentateuco em questão, p. 63-65. ↑
- ROSE, M. Deuternomist und Jahwist: Untersuchungen zu den Berührungspunkten beider Literaturwerke. Zürich: Theologischer Verlag, 1981. Cf. DE PURY, A. (org.) O Pentateuco em questão, p. 65-67; VAN SETERS, J. The Pentateuch: A Social-Science Commentary, p. 62. ↑
- E PURY, A. (org.) O Pentateuco em questão, p. 68. RENDTORFF, R. Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. Berlin: Walter de Gruyter, 1977 (tradução inglesa: The Problem of the Process of Transmission in the Pentateuch. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990). ↑
- Cf. BLUM, E. Die Komposition der Vätergeschichte. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1984; Studien zur Komposition des Pentateuch. Berlin: Walter de Gruyter, 1990. ↑
- Cf. VAN SETERS, J. The Pentateuch: A Social-Science Commentary, p. 58-86. ↑
- Idem, ibidem, p. 61-62. ↑
- FINKELSTEIN, I. ; SILBERMAN, N. A. The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts [A Bíblia Não Tinha Razão. São Paulo: A Girafa, 2003]. New York: The Free Press, 2001. ↑
- Cf. uma resenha do livro em https://airtonjo.com/site1/resenha-6.htm. ↑
- FINKELSTEIN, I. ; SILBERMAN, N. A. o. c., p. 1. ↑
- Idem, ibidem, p. 3. ↑
- Idem, ibidem, p. 3. ↑
- Idem, ibidem, p. 14. A partir deste ponto convido o leitor a seguir o pensamento dos autores na resenha citada acima em https://airtonjo.com/site1/resenha-6.htm. ↑