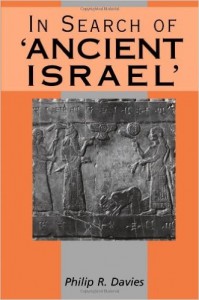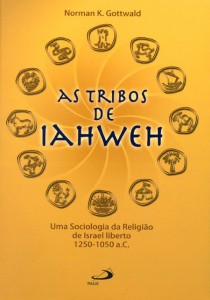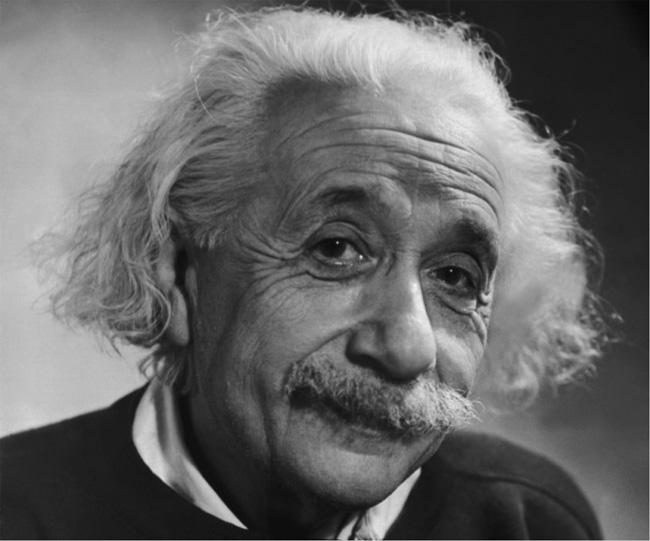Antropologia
Leitura socioantropológica do Novo Testamento
leitura: 20 min
1. A antropologia do mundo mediterrâneo e o Novo Testamento
Quando consideramos o Novo Testamento com o auxílio da antropologia, percebemos que o mundo mediterrâneo no qual ele foi gestado tem muito menos em comum com o Ocidente moderno do que imaginamos. É que costumamos olhar o texto com os parâmetros sociais atuais e não conseguimos, frequentemente, perceber a diferença do mundo antigo.
Considerações deste gênero são feitas, por exemplo, por Richard L. Rohrbaugh, na Introdução de um volume sobre “As Ciências Sociais e a Interpretação do Novo Testamento”, obra escrita por membros de The Context Group, “uma associação de estudiosos interessados no uso das Ciências Sociais como um instrumento heurístico na interpretação do Novo Testamento”[1] que ao longo de mais de três décadas vem trabalhando com a questão da antropologia do mundo mediterrâneo, visto como uma unidade cultural onde foi escrito o NT.
O autor nos oferece alguns exemplos que apontam para o risco da projeção de nossa visão moderna de mundo para o universo do NT. Tomemos a questão da expectativa de vida hoje nos países ricos e nas cidades pré-industriais do Império Romano: “Cerca de 1/3 daqueles que ultrapassavam o primeiro ano de vida (não contabilizados, portanto, como vítimas da mortalidade infantil) morriam até os 6 anos de idade. Cerca de 60% dos sobreviventes morriam até os 16 anos. Por volta dos 26 anos 75% já tinha morrido e aos 46 anos, 90% já desaparecido, chegando aos 60 anos de idade menos de 3% da população”[2].
É claro que estes dados não são uniformemente distribuídos por toda a população da época. Os que mais sofriam pertenciam às classes mais pobres das cidades e povoados, já que um pobre em Roma, no século I de nossa era, tinha uma expectativa de vida de 30 anos, quando muito. E o autor acrescenta: “Estudos feitos por paleopatologistas indicam que doenças infecciosas e desnutrição eram generalizadas. Por volta dos 30 anos a maioria das pessoas sofria de verminose, seus dentes tinham sido destruídos e sua vista acabado (…) 50% dos restos de cabelo encontrados nas escavações arqueológicas tinham lêndeas”[3].
Com moradias precárias, sem condições sanitárias adequadas, sem assistência médica, com uma má alimentação… se visto assim, o quadro romântico que um leitor de um país rico de nossa época faz da audiência de Jesus começa a ruir. Este mesmo Jesus, com seus trinta e poucos anos de idade, era mais velho do que 80% de sua audiência… uma audiência doente, desnutrida e com uma expectativa de mais 10 anos de vida, se tanto!
Douglas E. Oakman, em um estudo sobre as condições de vida dos camponeses palestinos da época de Jesus, mostra que a violência que sofriam era brutal. Fraudes, roubos, trabalhos forçados, endividamento, perda da terra através da manipulação das dívidas atingiam a muitos. Existia uma violência epidêmica na Palestina[4]. E é neste contexto que Oakman propõe uma leitura radical do Pai Nosso. “Ele sugere” – diz R. L. Rohrbaugh – “que o pedido ‘perdoa-nos as nossas dívidas’ (Mt 6,12) refere-se aos processos nos quais os camponeses perdiam sua terra para os credores urbanos que sistematicamente exploravam as condições econômicas precárias em que viviam. Além disso, argumenta Oakman, a prece final (Mt 6,13) ‘não nos ponha em teste’ – normalmente traduzida com a ideia anacrônica de não cair em tentação – é o apelo do camponês para que não seja levado a um tribunal de cobrança de dívidas e colocado diante de um juiz corrupto (‘mas livra-nos do Maligno’) cujo veredicto daria à expropriação de sua terra força de lei”[5].
E conclui o autor: “Refletir sobre como a oração de Jesus deve ter sido recebida pelos camponeses mediterrâneos angustiados com a perda potencial da terra e do seu sustento pode nos causar um certo choque cultural, mas pode também nos ensinar quão autenticamente aquela oração expressava a experiência de vida daquelas pessoas concretas. Há um rico sentido aqui, mas que só emerge quando nos preocupamos em captar o ambiente social do qual o texto provém”[6].
2. A sociologia do Novo Testamento no século XX
Segundo Gerd Theissen em Sociologia da cristandade primitiva, na virada do século XIX para o XX (e até a década de 30, acrescento eu), perguntas sociológicas foram regularmente aplicadas aos textos bíblicos do Novo Testamento. “As perguntas sociológicas logicamente pertenciam à ciência neotestamentária: descrevia-se a vida das comunidades primitivas (E. V. Dobschütz), examinavam-se aspectos sociais da missão e da expansão do cristianismo (A. v. Harnack), apresentava-se a sociedade palestinense nos moldes de uma história contemporânea neotestamentária (E. Schürer), analisavam-se as ideias sociais do cristianismo primitivo (E. Troeltsch) e, com auxílio da epigrafia e papirologia, procurava-se iluminar a vida das camadas baixas (A. Deissmann). Sobretudo, porém, formulava-se, no interior da ciência veterotestamentária, um determinado programa, que ainda hoje é determinante para a pesquisa sociológica: a história das formas e a história da religião (H. Gunkel). Não foi um acaso que ao mesmo tempo que se perguntava pelas relações entre textos bíblicos e fenômenos extrabíblicos – e com isso se resguardava o isolamento dos textos em contraposição ao seu contexto – perguntava-se também pelas relações entre os textos e a vida social passada – e com isso se anulava a alienação dos textos da vida da comunidade. Pois a pergunta pelo contexto histórico, assim como a pergunta pelo ‘Sitz im Leben’ social, é expressão de uma mesma consciência histórica, aquela consciência que, através de analogias factuais e correlações causais, interliga a crítica das fontes tradicionais com sua explicação”[7].
Mas, no século XX aconteceu um retrocesso na pesquisa sociológica bíblica. Entre os motivos por ele enumerados nas p. 11-14, destacam-se especialmente:
1) A teologia dialética de K. Barth, que levou a exegese a refletir sobre o conteúdo teológico dos textos, espiritualizando a pergunta pelo “Sitz im Leben” (contexto social), que passou a ser apenas o “lugar vivencial” religioso. Os textos eram lidos primariamente como expressão da teologia da comunidade e de sua fé. Diminuiu o interesse social e aumentou o religioso.
2) A hermenêutica existencial de R. Bultmann que, com sua tendência individualizante na leitura do Novo Testamento, enfraqueceu mais ainda o interesse pela dimensão social dos textos.
Nas palavras de G. Theissen: “Conexões sociais pertenceriam ao ‘impróprio’ do qual uma existência humana preocupada com o ‘próprio’ deveria se distanciar. A nova interpretação existencial afirmou-se sobretudo no âmbito da exegese de Paulo e de João, que, com isso, recebeu um peso teológico muito maior do que a interpretação dos sinóticos, nos quais o método histórico-formal havia se radicado. Sim, o método histórico-formal, por vezes, teve que prestar-se a minimizar o peso teológico das tradições jesuânicas preservadas nos evangelhos sinóticos, em parte através de um grande ceticismo histórico, em parte através do pré-ordenamento do primitivo querigma cristão da cruz e ressurreição ante a diversidade das tradições sinóticas”[8].
O retorno das questões sociológicas acontece a partir da década de 70, em um momento em que as questões sociais emergiam fortemente mundo afora. John H. Elliott, exegeta norte-americano que utiliza modelos sociológicos e antropológicos para a leitura dos textos bíblicos, em um excelente livrinho chamado What is Social-Scientific Criticism? resume a história dos estudos até a década de 90 sob esta ótica na área do Novo Testamento, começando exatamente por Gerd Theissen[9].
3. Gerd Theissen e o radicalismo itinerante: 1973
Em 1973, Gerd Theissen, exegeta alemão e, naquela época, professor da Universidade de Bonn, publicou um artigo chamado “Radicalismo Itinerante. Aspectos de sociologia da literatura na transmissão de palavras de Jesus no cristianismo primitivo”[10], no qual ele propõe que “analisar o Novo Testamento na perspectiva da sociologia da literatura significa (…) perguntar pelas intenções e condicionamentos do comportamento inter-humano de autores, transmissores e destinatários de textos neotestamentários”. E continua um pouco mais à frente: “A transmissão das palavras de Jesus no Cristianismo primitivo é um problema sociológico sobretudo pelo fato de Jesus não haver fixado suas palavras literariamente” e que “uma tradição oral [em contraposição à escrita] depende do interesse de seus transmissores e destinatários. Sua preservação está ligada a condicionamentos sociais bem específicos…”[11].
E a tese que Gerd Theissen defendeu neste estudo foi a seguinte: “O radicalismo ético da tradição das palavras de Jesus é um radicalismo itinerante. Ele somente pode ser praticado e transmitido sob condições extremas de vida: somente quem está desligado das relações do mundo, somente quem abandonou casa, mulher e filhos, quem deixou aos mortos o enterrar os seus mortos e toma os pássaros e os lírios como exemplo pode renunciar à moradia, à família, à propriedade, ao direito e à defesa. Somente em tais circunstâncias podem ser transmitidas semelhantes orientações sem que caiam no descrédito. Essa ética tem chance somente na margem da sociedade, somente aí ela tem um Sitz im Leben, ou para ser mais exato: ela não tem um Sitz im Leben. Deve, isso sim, a partir de um ponto de vista externo, levar uma vida questionável à margem da vida normal. Somente aqui as palavras de Jesus estavam protegidas contra alegorizações, modificações, minimizações e supressões pela simples razão de que aí eram levadas a sério e praticadas. Somente carismáticos apátridas podiam fazê-lo”[12].
J. H. Elliott faz o seguinte comentário sobre o artigo de Gerd Theissen: “Ao fundir exegese e ‘sociologia da literatura’ esta proposta explodiu no meio exegético como uma bomba. As familiares mas domesticadas palavras da ética radical de Jesus não mais puderam ser tratadas isoladamente das condições sociais do tempo de Jesus ou das circunstâncias sociais e dos interesses específicos dos seguidores de Jesus. Este casamento criativo entre crítica histórica e uma perspectiva sociológica mais rigorosa trouxe uma perspectiva nova e revigorante que alimentou um velho e cansado empreendimento e foi decisiva para expandir e incrementar a aventura exegética. A crítica histórica estava sofrendo uma promissora transformação”[13].
Os estudos de Gerd Theissen, embora abranjam uma larga faixa de temas, tratam prioritariamente do movimento de Jesus na Palestina tentando explicar as razões de sua falência ali e de seu grande sucesso no meio gentio fora da Palestina. Sua pesquisa, entretanto, provocou menos pelo método empregado (funcionalismo estrutural[14]) do que pelas questões levantadas. A exegese não estava assim tão habituada a olhar os textos do Novo Testamento perguntando prioritariamente pelas condições sociais da época, pelos problemas levantados e pelas estratégias empregadas pelo movimento de Jesus.
4. A leitura materialista de Fernando Belo: 1974
No ano seguinte ao do pioneiro artigo de Gerd Theissen de 1973, um estudo, com sabor de manifesto, causou viva discussão nos meios exegéticos: foi o do português Fernando Belo.
Utilizando dados da leitura estruturalista do texto, segundo Roland Barthes, somados à análise marxista dos modos de produção na linha de Louis Althusser e à psicologia e psicanálise de Jacques Lacan, entre outros[15], Fernando Belo escreveu, em 1974, um estudo revolucionário sobre o evangelho de Marcos, chamado Lecture matérialiste de l’évangile de Marc: Récit-pratique-idéologie. Paris: Du Cerf, 1974.
Neste estudo Fernando Belo adota a perspectiva de que ler Marcos de modo materialista é tomá-lo como uma narração que não se pode compreender fora da situação social de seu autor e dos protagonistas (Jesus, seus amigos, seus adversários, a multidão…). É pôr o acento menos nas palavras de Jesus do que na sua prática; tanto mais que a narração de Marcos não é uma coleção de “palavras” ou “discursos”, mas expõe práticas e estratégias.
A obra de Fernando Belo, de 415 páginas, linguagem difícil dado o ecletismo do método, traz, em primeiro lugar, um ensaio formal do conceito de modo de produção. Depois trata do modo de produção da Palestina antiga e do séc. I d.C., para só então propor uma leitura de Marcos. Fernando Belo termina o livro com um ensaio de eclesiologia materialista.
Merece, no mesmo contexto, ser citado o experimento de CLÉVENOT, M. Enfoques materialistas da Bíblia. O original francês vem de Paris e é de 1976. Livro modesto, mais um divulgador de Belo do que um criador, mas com aspectos interessantes, tanto no que diz respeito ao Antigo Testamento quanto à leitura de Marcos. “Responsável pela edição do ‘Belo’, pareceu-me útil apresentar aos numerosos leitores interessados por esse novo acesso à Bíblia um livro menor, mais modesto e, espero, mais abordável”[16].
A 1a parte do livro de Clévenot, fruto de um seminário de dois anos, do qual participou também Fernando Belo, traz uma abordagem materialista das tradições Javista, Eloísta, Sacerdotal e Deuteronomista, vistas como produto da conjunção de fatores ideológicos, políticos e econômicos. A 2a parte faz uma leitura do evangelho de Marcos como um relato da prática de Jesus, seguindo os passos de Fernando Belo. Como explica Clévenot, na p. 22, “nós consideraremos os textos que compõem a Bíblia como produtos ideológicos. Nosso projeto será analisar as condições nas quais ele foi produzido”.
Mas o que vem a ser este enfoque materialista de Clévenot? Ele mesmo explica: “Ao contrário da filosofia alemã (idealista), que desce dos céus à terra, aqui nós subiremos da terra para o céu. Quer dizer, nós não nos baseamos no que os homens dizem, pensam, representam, nem naquilo que eles são segundo as palavras, pensamentos, imaginação e representação de outros para então chegar aos homens em carne e osso; não, nós nos baseamos nos homens em suas atividades reais, quer dizer, é a partir do processo real de vida que podemos representar o próprio desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas desse processo vital”[17].
5. John Gager e a hipótese milenarista: 1975
Em 1975, John G. Gager publicou Kingdom and Community: The Social World of Early Christianity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Nesta obra, o professor de Princeton procurou explicar a natureza e o desenvolvimento do cristianismo como um movimento milenarista, a função social de seus mitos, a atividade missionária cristã como uma resposta para a não ocorrência do fim antecipado do mundo, os meios cristãos para legitimar o poder e controlar os desvios internos, e o relativo e rápido sucesso do cristianismo como religião dominante no mundo gentio[18].
John Gager utilizou duas teorias para estruturar seu estudo: a teoria da dissonância cognitiva de L. Festinger e a teoria das funções do conflito social de L. Coser. Além disso, Gager apoia-se na sociologia do conhecimento de Peter Berger e Thomas Luckmann, na análise dos movimentos carismáticos de Max Weber e nos estudos sobre movimentos milenaristas de K. O. L. Burridge[19].
O resultado, segundo H. C. Kee, é uma “reconstituição histórica iluminadora e sugestiva quanto ao amplo enquadramento da evolução do cristianismo a partir de uma seita milenarista, passando por um período de incipiente estruturação e disciplina, até chegar ao estabelecimento da Igreja da era constantiniana”. Mas, “apesar de insistir na importância dos métodos sociocientíficos para o estudo histórico e de sua maestria admirável em manuseá-los, ele concentra a sua atenção em problemas estritamente sociais, tendendo a negligenciar e até mesmo evitar temas religiosos, teológicos ou hermenêuticos, que, com certeza, também se esclarecem mediante os métodos sociológicos”[20].
Não é este o momento de explicarmos detalhadamente estas teorias e nem de verificarmos sua aplicação. Só quero chamar a atenção para o pressuposto utilizado: as teorias são aqui utilizadas como instrumentos heurísticos que sugerem um conjunto de questões e estimulam a pesquisa[21].
Embora na Europa o uso das ciências sociais na leitura da Bíblia tenha menor penetração, em 1977, na Alemanha, Alfred Schreiber usou uma pesquisa sociológica sobre dinâmica de grupos para propor uma reconstrução hipotética da interação social entre Paulo e os coríntios. Em 1980, o sueco Bengt Holmberg aplicou modelos weberianos de dominação para analisar os níveis de poder nas comunidades paulinas e o processo de passagem de uma autoridade carismática para uma autoridade institucionalizada e racionalizada[22].
Em 1980 Howard Clark Kee, da Universidade de Boston, publicou Christian Origins in Sociological Perspective: Methods and Resources, no qual chama a atenção para o valioso recurso que é o uso das ciências sociais tanto na reconstrução histórica das origens cristãs quanto na interpretação de sua literatura[23]. “A intenção do nosso livro”, escreve ele no primeiro capítulo, “consiste, portanto, em explicitar uma série de recursos metodológicos desenvolvidos ou em desenvolvimento nas ciências sociais, que possam nos prover de paradigmas adequados à análise da literatura cristã das origens, com o propósito de aumentar a compreensão dos acontecimentos relatados, bem como das circunstâncias e do ambiente vital, a partir dos quais e para os quais foram preparados os relatos”[24].
[1]. ROHRBAUGH, R. L. Introduction. In: ROHRBAUGH, R. L. (ed.) The Social Sciences and New Testament Interpretation. Grand Rapids: Baker Academic, 2003, p. 10.
[2]. Idem, ibidem, p. 4-5.
[3]. Idem, ibidem, p. 5.
[4]. Cf. OAKMAN, D. E. The Countryside in Luke-Acts. In: NEYREY, J. H. (ed.) The Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation. Grand Rapids: Baker Academic, 1999, p. 168.
[5]. ROHRBAUGH, R. L. Introduction. In: o. c., p. 6. Mt 6,12-13 diz: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. εἰσενέγκῃς é um aoristo ingressivo [focaliza o momento inicial da ação] e pode significar que alguém é arrastado e levado perante um juiz ou um tribunal (cf. Lc 12,11: “Quando vos conduzirem [εἰσφέρωσιν ] às sinagogas, perante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defender”). O genitivo πονηροῦ pode vir do neutro, significando o mal em geral , como a tradição latina o leu, influenciada por Santo Agostinho, ou pode vir do masculino, o Maligno, opção mais adequada à mentalidade dos primeiros cristãos. Assim o leram os Padres Orientais. É que o uso do neutro τὸ πονηρόν no sentido de “o mal” não pertence ao vocabulário do Novo Testamento, nem combina com a mentalidade semítica, que foge das abstrações. Cf. também HANSON, K. C.; OAKMAN, D. E. Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts. 2. ed. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2008. Apesar da fascinante leitura de D. Oakman, a maioria dos especialistas lêem τοῦ πονηροῦ, tanto no masculino como no neutro em sentido escatológico, como no seguinte texto: “A decisão em favor de um ou de outro não modifica essencialmente a intenção do que foi dito por Mateus, porque aqui trata-se da realidade atual urgente e da realidade e atividade escatológica iminente do mal…” BALZ, H. ; SCHNEIDER, G. (eds.) Diccionario Exegético del Nuevo Testamento II. Salamanca: Sígueme, 1998, verbete πονηρός.
[6]. ROHRBAUGH, R. L. Introduction. In: o. c., p. 6.
[7]. THEISSEN, G. Sociologia da cristandade primitiva: Estudos. São Leopoldo: Sinodal, 1987, p. 9.
[8]. THEISSEN, G. o. c., p. 12.
[9] . Cf. ELLIOTT, J. H. What is Social-Scientific Criticism? Minneapolis: Fortress Press, 1993, p. 21-35.
[10]. THEISSEN, G. Wanderradikalismus: Literatursoziologische Aspekte der Überlieferung von Worten Jesu im Urchristentum, Zeitschrift für Theologie und Kirche 70, p. 245-271, 1973. Este texto está no livro de THEISSEN, G. Sociologia da cristandade primitiva: Estudos, p. 36-55.
[11]. THEISSEN, G. Sociologia da cristandade primitiva: Estudos, p. 37.
[12]. Idem, ibidem, p. 41.
[13]. ELLIOTT, J. H. What is Social-Scientific Criticism? p. 21-22. Gerd Theissen posteriormente publicou uma série de estudos provocadores, tais como Soziologie der Jesusbewegung. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Urchristentums. München: Chr. Kaiser Verlag, [1977] 1988; Studien zur Soziologie der Urchristentums. Tübingen: Mohr Siebeck, [1979] 1989; Social Reality and the Early Christians: Theology, Ethics, and the World of the New Testament. Minneapolis: Fortress Press, 1992. Os dois primeiros estão traduzidos em português e são O Movimento de Jesus: História social de uma revolução de valores. São Paulo: Loyola, 2008 e o já citado Sociologia da cristandade primitiva: Estudos.
[14]. O funcionalismo estrutural “enfatiza a unidade essencial de sociedades, uma unidade que emerge quando diferentes grupos conseguem o equilíbrio através do consenso (…) A abordagem funcionalista estrutural identifica e analisa as estruturas básicas de uma sociedade específica e examina suas relações; seu interesse maior está em entender como os componentes de uma determinada sociedade (suas instituições, estruturas, crenças etc.) funcionam dentro da sociedade mais ampla”, define CARTER, C. E. A Discipline in Transition. In: CARTER, C. E.; MEYERS, C. L. (eds.) Community, Identity and Ideology: Social Sciences Approaches to the Hebrew Bible. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1996, p. 9.
[15]. Cf. BARTHES, R. S/Z. Essai. Paris: Seuil, 1970; ALTHUSSER, L. A favor de Marx. Pour Marx. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (original francês: 1965); Ler o Capital, 2 vols. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (original francês: 1966); LACAN, J. Ecrits. Paris: Seuil, 1966. Fernando Belo faleceu em 2018. Leia mais sobre ele aqui e aqui.
[16]. CLÉVENOT, M. Enfoques materialistas da Bíblia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 17.
[17]. Idem, ibidem, p. 22.
[18]. Cf. ELLIOTT, J. H. o. c., p. 24.
[19]. Cf. FESTINGER, L. et al. When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction of the World. Eastford, CT: Martino Fine Books, [1956] 2012 ; Idem, A Theory of Cognitive Dissonance. Evanston: Row Peterson, 1957; COSER, L. The Functions of Social Conflict: An Examination of the Concept of Social Conflict and Its Use in Empirical Sociological Research. New York: The Free Press, 1964; BERGER, P. O dossel sagrado: Elementos para uma teoria sociológica da religião. 9. ed. São Paulo: Paulus, 2013; WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva, 2 vol. 4. ed. Brasília: Editora da UnB, 2015; BURRIDGE, K. O. L. New Heaven, New Earth: A Study of Millenarian Activities. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 1980.
[20]. KEE, H. C. As origens cristãs em perspectiva sociológica. São Paulo: Paulus, 1983, p. 16.
[21]. Cf. para uma exposição crítica, RODD, C. S. On Applying a Sociological Theory to Biblical Studies. In: CHALCRAFT, D. J. (ed.) Social Scientific Old Testament Criticism: A Sheffield Reader. London: Bloomsbury T & T Clark, 2006, p. 22-33. Rodd diz na p. 32: “Gostaria de afirmar que as tentativas de aplicar teorias sociológicas a documentos bíblicos não parecem ter sido frutíferas. A chance de testar uma hipótese é tão pequena que pode ser negligenciada”. E acrescenta na p. 33: “Minha convicção é de que há uma enorme diferença entre a sociologia aplicada à sociedade contemporânea, onde o pesquisador pode testar suas teorias face à evidência coletada, e a sociologia histórica, onde há somente uma evidência fossilizada que foi preservada por acaso ou para propósitos muito diferentes daqueles do sociólogo”. Entretanto, o capítulo 3 de Kingdom and Community, sobre o milenarismo – “Earliest Christianity as a Millenarian Movement” – chamou a atenção dos estudiosos para o estudo da categoria no cristianismo primitivo, produzindo boas pesquisas, segundo DULLING, D. C. Millennialism. In: ROHRBAUGH, R. (ed.) The Social Sciences and New Testament Interpretation, p. 200.
[22]. Cf. ELLIOTT, J. H. What is Social-Scientific Criticism?, p. 28; SCHREIBER, A. Die Gemeinde in Korinth: Versuch einer gruppen-dynamischen Betrachtung der Entwicklung der Gemeinde von Korinth auf der Basis des erster Korintherbriefes. Münster: Aschendorff, 1977; HOLMBERG, B. Paul and Power: The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles.Eugene, OR: Wipf & Stock, [1980] 2004.
[23]. Cf. KEE, H. C. Christian Origins in Sociological Perspective: Methods and Resources. Louisville: Westminster John Knox Press, 1980. Em português: As origens cristãs em perspectiva sociológica. São Paulo: Paulus, 1983.
[24]. Idem, As origens cristãs em perspectiva sociológica, p. 16-17.