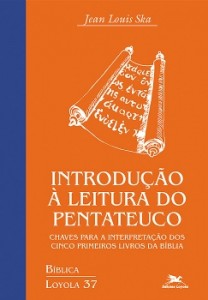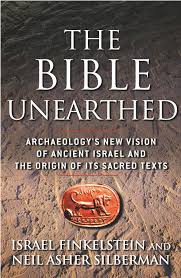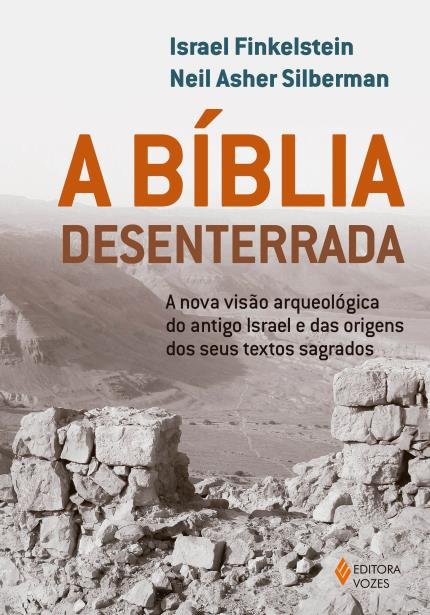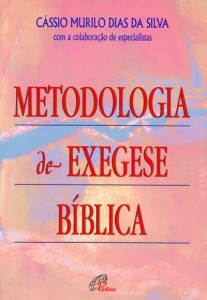Em busca do antigo Israel
DAVIES, P. R. In Search of ‘Ancient Israel’. Sheffield: Sheffield Academic Press [1992], 1995, 166 p. [2. ed. 2015]
leitura: 31 min
Philip R. Davies (1945-2018) foi professor de Estudos Bíblicos na Universidade de Sheffield, Inglaterra. Este seu livro, Em Busca do ‘Antigo Israel’, foi publicado em 1992 e reimpresso, sem modificações, em 1995. É constituído por nove capítulos, além de trazer no início um prefácio a esta reimpressão, uma página de agradecimentos a estudiosos a quem ele se considera devedor e uma lista de abreviações; e, no fim, a bibliografia das obras mencionadas, um índice de fontes bíblicas e não bíblicas usadas e um índice dos autores citados.
Embora tentado a reescrever o livro – para atualizar elementos ultrapassados e porque sua perspectiva mudou em alguns pontos de menor importância – o autor se limitou a corrigir os erros gráficos e a esclarecer aspectos que permaneceram obscuros na primeira edição, segundo observações de seus leitores. A bibliografia não foi atualizada. No prefácio à reimpressão, diz P. R. Davies que considera o livro ainda válido para uma abordagem da Bíblia, seus autores e criadores, que está se tornando cada vez mais comum.
O livro foi reeditado em 2015: In Search of ‘Ancient Israel’: A Study in Biblical Origins. 2. ed. London: Bloomsbury T & T Clark, 2015, 192 p. – ISBN 9780567662972. Com novo prefácio.
Preliminares
No capítulo 1, chamado “Preliminares”, o autor adverte o leitor de que este é um livro sobre história e não outra “História de Israel”, um gênero provavelmente obsoleto. E avisa que estará trabalhando com três “Israeis”: um literário, o Israel bíblico; outro histórico, os habitantes da região montanhosa da Palestina do norte durante parte da Idade do Ferro; e um terceiro, o “antigo Israel”, citado entre aspas, por ser um construto dos estudiosos resultado do amálgama dos dois primeiros.
Em seguida, Philip R. Davies sugere que a combinação das abordagens literária e socioantropológica apresenta hoje o mais promissor caminho para o avanço dos estudos bíblicos. A crítica literária nos tornou aptos a perceber que qualquer personagem ou evento na Bíblia é personagem ou evento literário e de que nada em um texto literário tem que ser obrigatoriamente ou é automaticamente real fora dele.
Por outro lado, se o leitor decide assumir a identidade de historiador é preciso estar consciente de que a história é uma narrativa na qual acontecimentos e pessoas tornam-se eventos e personagens. Por isso, quando tentamos descrever o passado sempre estamos contando histórias. Ora, nenhuma história é uma representação inocente ou objetiva do mundo exterior. Toda história é ficção e isto inclui a historiografia. E se a literatura, como uma forma de comunicação persuasiva, é ideologia, também a historiografia, como uma forma de literatura, é ideologia. Donde se conclui que não é a credulidade que faz o historiador, mas sim o ceticismo. Este deve ser o seu foro apropriado, conclui o autor na p. 13.
Quanto ao uso das ciências sociais por aqueles que escrevem história, embora criticado por muitos, é preciso dizer que ele possibilita examinar não somente a literatura e a realidade social de Israel, mas também as forças sociais subjacentes à produção da literatura bíblica, onde se distingue a sociedade que está por trás do texto da sociedade que aparece dentro do texto.
Em resumo, as abordagens literária e sociológica desafiaram o sentido de realidade transcendental que sempre permaneceu oculto sob a superfície da pesquisa bíblica, sendo ambas não metafísicas e voltadas para o mundo humano. Reconhecer, de verdade, que a literatura bíblica é um produto de autores humanos, fundamenta a possibilidade de uma mudança de paradigma: “Nós estamos conquistando uma posição na qual um paradigma não teológico está começando a reivindicar um lugar ao lado do sempre dominante paradigma teológico”, diz P. R. Davies na p. 15. Sendo não teológico, este paradigma deve persuadir pela oferta de um caminho alternativo para a compreensão da literatura bíblica, que seja, inclusive, capaz de funcionar como uma hipótese de trabalho. “Neste livro eu procuro fazer isto”, porque “há a necessidade de uma busca genuína do ‘antigo Israel’, que, sob o antigo paradigma, era um dado não questionado” (p. 16). Sob a nota de rodapé n. 3 deste capítulo, P. R. Davies diz que foi Robert A. Oden no livro “A Bíblia sem Teologia”, San Francisco, Harper and Row, 1987, quem até hoje tratou com maior lucidez este problema. Este livro foi reeditado com o título de The Bible Without Theology: The Theological Tradition and the Alternatives to It. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000, ix + 208 p. – ISBN 9780252068706.
da pesquisa bíblica, sendo ambas não metafísicas e voltadas para o mundo humano. Reconhecer, de verdade, que a literatura bíblica é um produto de autores humanos, fundamenta a possibilidade de uma mudança de paradigma: “Nós estamos conquistando uma posição na qual um paradigma não teológico está começando a reivindicar um lugar ao lado do sempre dominante paradigma teológico”, diz P. R. Davies na p. 15. Sendo não teológico, este paradigma deve persuadir pela oferta de um caminho alternativo para a compreensão da literatura bíblica, que seja, inclusive, capaz de funcionar como uma hipótese de trabalho. “Neste livro eu procuro fazer isto”, porque “há a necessidade de uma busca genuína do ‘antigo Israel’, que, sob o antigo paradigma, era um dado não questionado” (p. 16). Sob a nota de rodapé n. 3 deste capítulo, P. R. Davies diz que foi Robert A. Oden no livro “A Bíblia sem Teologia”, San Francisco, Harper and Row, 1987, quem até hoje tratou com maior lucidez este problema. Este livro foi reeditado com o título de The Bible Without Theology: The Theological Tradition and the Alternatives to It. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000, ix + 208 p. – ISBN 9780252068706.
Procurando o ‘Antigo Israel’
No Capítulo 2, ”Procurando o ‘Antigo Israel’”, Philip R. Davies enfoca a pesquisa bíblica para entender porque esta considerou, sem mais, o ‘antigo Israel’ como uma entidade histórica acessível, e para examinar alguns dos pressupostos hermenêuticos de historiadores bíblicos que garantem esta concepção. “Eu estou sugerindo que não há uma procura pelo verdadeiro (histórico) antigo Israel, porque tal busca não tem sido considerada necessária; mas a tese deste livro é de que uma busca é necessária, na medida em que o ‘antigo Israel’ não é uma construção histórica e que, por isso, ele desalojou algo que é histórico” (p. 21).
O ‘antigo Israel’ é um construto erudito resultante da tomada de uma construção literária, a narrativa bíblica, tornada objeto de investigação histórica. Este construto erudito é contraditório, fantasioso e ideológico.
Contraditório: como um construto erudito, o ‘antigo Israel’, a despeito de seu exclusivo ponto de partida bíblico, diferencia-se, e muito, do Israel bíblico. A história do Israel bíblico é mítica – ela remete tudo à criação do mundo, onde suas instituições já estão previstas -, mas as ‘Histórias de Israel’ fazem uma leitura racionalista dos mitos e tratam-nos como históricos. Deste modo, o ‘período bíblico’ adquire objetividade histórica e figuras literárias são transmutadas em figuras históricas. “Ao invés de tentar entender o que é literário em termos literários, elas tentam dar explicações históricas para problemas literários” (p. 28). Mas, o ‘Israel’ da literatura bíblica, pelo menos em grande parte, não é de modo algum uma entidade histórica, o que é do conhecimento dos estudiosos bíblicos. Este é o caso do assim chamado ‘período patriarcal’, do ‘Êxodo’, do ‘período do deserto’ ou do ‘período dos juízes’.
“Apesar disso, a maioria deles, embora sabendo que a história de Israel do Gênesis a Juízes não deve ser tratada como história, prossegue, não obstante, com o resto da história bíblica, de Saul ou Davi em diante, na pressuposição de que, a partir deste ponto, o obviamente literário tornou-se o obviamente histórico”, diz Philip R. Davies na p. 26. E ele pergunta: “Pode alguém realmente deixar de lado a primeira parte da história literária de Israel, reter a segunda parte e ainda tratá-la como uma entidade histórica?” Uma história de Israel que começa neste ponto deverá ser uma entidade bem diferente do Israel literário, que pressupõe a família patriarcal, a escravidão no Egito, a conquista da terra que lhe é dada por Deus e assim por diante.
Fantasioso: nós estudamos Isaías ou Amós, por exemplo, interessados no que Isaías ou Amós pensavam, no que de fato estava acontecendo em seu tempo, que conselho eles davam para as pessoas… como se nós conhecêssemos seus contextos históricos reais, que, na realidade, são apenas contextos literários bíblicos. O fato é que o nosso ‘antigo Israel’ é “uma criação erudita considerada essencial para o prosseguimento dos estudos bíblicos” (p. 29). Ele não é uma entidade literária bíblica e nem mesmo uma entidade histórica.
Há ainda duas ilusões não questionadas: pelo fato dos textos bíblicos tratarem de lugares e personagens muito conhecidos, nós acreditamos normalmente que os eventos narrados sobre eles são históricos. Do mesmo modo, nós pensamos que os criadores da literatura bíblica viveram no mesmo período narrado por esta literatura, dando credibilidade às suas histórias. Se nós colocarmos a composição da literatura dentro da época da qual ela trata, a ‘época bíblica’ e a literatura bíblica, tomadas como um todo, “tornam-se um testemunho contemporâneo de seu próprio construto, reforçando o pressuposto inicial de uma matriz histórica verdadeira e dando impulso a todo um exercício de pseudo-erudição, no qual se organiza a literatura em uma sequência de contextos que ela mesma ofereceu”, objeta Philip R. Davies na p. 37. E acrescenta que “as ferramentas histórico-críticas e métodos usados pelos estudiosos bíblicos dependem, em boa parte, desta circularidade”.
Ideológico: a pesquisa bíblica é vista como uma disciplina teológica, a maioria de seus profissionais é composta de teólogos, cristãos e clérigos e seu habitat comum é o seminário ou o departamento teológico de um estabelecimento de ensino superior ou universidade. Neste ambiente, o ‘antigo Israel’ é “uma entidade homogênea, uma igreja embrionária, pensando de modo religioso, pecando, mas, em última instância, justificada por sua ‘fé’ em Deus” (p. 44).
Deste modo, muitas coisas são idealizadas ou tornadas necessárias, embora elas sejam historicamente pouco razoáveis, como, por exemplo, a ‘reforma de Josias’, uma lenda piedosa – “possível, mas extremamente improvável” (p. 39) – e o ‘exílio’, apresentado como punição e perdão. À acusação de circularidade, Philip R. Davies acrescenta a de credulidade, ilustrada com estes dois exemplos acima.
Assim, trabalhando em igrejas e para igrejas, é afirmado ideologicamente que a comunidade produziu a Bíblia, misturando sociedade e comunidade, como se estes conceitos fossem sinônimos. Escrever, naquela época, era função de 5% da população e um empreendimento guiado por específicos interesses de classe, geralmente alojada nas cortes e nos templos.
Porém ele alerta na p. 44: “Minha contenda não é com os companheiros de caminhada individualmente, mas com a estrutura da disciplina que a teologia cristã construiu e que nos submete a um empreendimento que não tem suporte para ser seriamente crítico”. E na nota de rodapé 22 ele diz que a razão para a deificação da credulidade e a abominação do ceticismo nos estudos bíblicos está na própria linguagem do cristianismo, onde crer é bom e duvidar é mau. Ceticismo beira à irreligiosidade, e a dúvida nunca deve ser sistemática, pelo menos quando aplicada aos dados bíblicos. O ‘antigo Israel’ é guardado como sagrado nos corações dos teólogos bíblicos! “A tal visão falta a distinção elementar entre preconceito e método”, conclui P. R. Davies.
Definindo o Israel bíblico
O tema do qual P. R. Davies tratará neste capítulo é o seguinte: para quem se empenha numa pesquisa histórica, o Israel bíblico é um problema e não um dado. O termo ‘Israel’ é utilizado em pelo menos 10 sentidos diferentes na literatura bíblica, segundo especialistas na área, e de um modo bastante flexível. Nós precisamos perguntar que tipo de termo é este. Mas, “muitos biblistas têm uma longa convivência com a Bíblia, e sua noção de Israel já está internalizada, a tal ponto que eles tomam seus vários usos como sendo homogêneos, sua complexidade como simples e suas contradições como invisíveis (…) O ‘Israel’ da literatura bíblica é automaticamente adotado como um termo apropriado para o uso erudito, incluindo toda a sua variedade e contradição” (p. 49). Deste modo, ‘Israel’ é um povo, tem uma religião, tem seu próprio deus; ‘Israel’ é uma terra, é um reino unido sob Davi e Salomão, é dividido em dois reinos… Nós devemos tomar uma atitude que desafia nossa formação teológica: desfamiliarizarmo-nos com a Bíblia!
Três tipos de critérios – políticos, étnicos e religiosos – cobrem os vários usos do termo ‘Israel’. Mas estas três categorias não são inteiramente compatíveis entre si, de modo que não podemos identificar automaticamente a população da Palestina na Idade do Ferro, e de certo modo também do período persa, com o ‘Israel’ bíblico. “Nós não podemos transferir automaticamente nenhuma das características do ‘Israel’ bíblico para as páginas da história da Palestina (…) Nós temos que extrair nossa definição do povo da Palestina de suas próprias relíquias. Isto significa excluir a literatura bíblica”, diz P. R. Davies na p. 51.
Trabalhando com as definições de ‘Israel’, ‘Cananeus’, ‘Exílio’ e ‘Período Persa’, o autor quer mostrar “que é simplesmente impossível pretender que a literatura bíblica ofereça um retrato suficientemente claro do que é o seu ‘Israel’, de modo a justificar uma interpretação e aplicação históricas. Desta forma, o historiador precisa investigar a história real independentemente do conceito bíblico” (p. 56).
Em busca do Israel histórico
No Capítulo 4 P. R. Davies investiga o Israel histórico independentemente da literatura bíblica.Como principal evidência, ele usa os artefatos que os povos da Palestina nos deixaram, as construções que eles ocuparam, as inscrições que eles gravaram.
Ele investiga o nome ‘Israel’ em um texto ugarítico (KTU 4.623.3), na Estela de Merneptah e na Inscrição de Salmanasar III (ca. 853); o Estado Israelita em outras evidências, tais como a Inscrição de Mesha, rei de Moab (ca. 840), as referências assírias a Israel e a seu rei Omri e a descrição da tomada da cidade de Samaria por Sargão II; o Reino de Judá, que aparece com Jerusalém como seu maior centro administrativo somente no século VIII AEC, na medida em que não há referências extrabíblicas ao ‘império’ bíblico de Davi e Salomão; a religião de Israel e Judá e a evidência dos muitos cultos que existiam em cada reino, como cultos urbanos, cultos dinásticos e cultos populares, e as apaixonadamente discutidas inscrições de Kuntillet ‘Ajrûd (“Eu te abençoo em nome de Iahweh de Samaria e de sua Asherah”) e de Khirbet el-Qôm (“Abençoado seja Urias por Iahweh e sua Asherah”).
Ele conclui: “Da pesquisa dos dados extrabíblicos vistos acima, nós podemos dizer que o nome ‘Israel’ existia na Palestina pelo menos desde o começo da Idade do Ferro, embora não se saiba se ele pertencia a algum grupo em particular ou a alguma região” (p. 69). E no final do capítulo ele diz que a questão agora é: “O que nós conhecemos da Palestina da Idade do Ferro pode ter produzido a ideia de ‘Israel’”? (p. 70). Sua resposta, porém, é a de que a Idade do Ferro não nos parece oferecer uma matriz plausível para o ‘Israel’ bíblico. Deste modo, “nós devemos investigar seriamente sob que circunstâncias e por quais razões este tipo de construto poderia ter emergido” (p. 71).
O contexto social do Israel bíblico
No Capítulo 5 o autor afirma: “Foi durante os Períodos Persa e Helenístico que a literatura bíblica deve ter sido composta, e é na sociedade desta época que nós devemos agora procurar pelas precondições que permitiram e motivaram a geração deste construto ideológico que é o Israel bíblico” (p. 72).
Mas as fontes arqueológicas da Palestina deste período são ainda mais escassas do que as da Idade do Ferro. Por isso, o autor observa as características do próprio Israel bíblico: “Neste capítulo, portanto, é o perfil do Israel literário que determina o foco” (p. 73), embora isto pareça estar em contradição com o que ele afirma no capítulo terceiro.
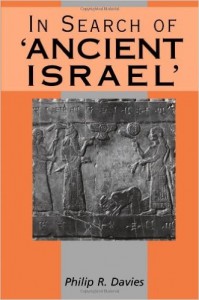 Isto é que os leitores entenderam, pois ele diz no prefácio desta segunda edição que passou a impressão “de confiar nos relatos de Esdras e Neemias” (p. 7). Sem dúvida, ele afirma na p. 77 que a conjunção das figuras de Esdras e Neemias é um empreendimento editorial, que a historicidade de Esdras é uma questão aberta, que qualquer reconstrução baseada nas atividades de Esdras e Neemias é uma racionalização pós-redacional e que “muitas reconstruções eruditas desta sociedade persa dão crédito demais aos livros de Esdras e Neemias” (p. 82). E, voltando ainda ao prefácio, que ele vê os relatos de Esdras e Neemias “como narrativas fundantes de diferentes tipos de Judaísmo, contendo poucos dados históricos detalhados nos quais podemos confiar” (p. 7).
Isto é que os leitores entenderam, pois ele diz no prefácio desta segunda edição que passou a impressão “de confiar nos relatos de Esdras e Neemias” (p. 7). Sem dúvida, ele afirma na p. 77 que a conjunção das figuras de Esdras e Neemias é um empreendimento editorial, que a historicidade de Esdras é uma questão aberta, que qualquer reconstrução baseada nas atividades de Esdras e Neemias é uma racionalização pós-redacional e que “muitas reconstruções eruditas desta sociedade persa dão crédito demais aos livros de Esdras e Neemias” (p. 82). E, voltando ainda ao prefácio, que ele vê os relatos de Esdras e Neemias “como narrativas fundantes de diferentes tipos de Judaísmo, contendo poucos dados históricos detalhados nos quais podemos confiar” (p. 7).
Em sua busca, P. R. Davies encontra sete grupos onde o nome ‘Israel’ persistiu após a destruição de Samaria em 722 AEC: aqueles que permaneceram em Samaria e arredores, aqueles que migraram forçadamente para o território do então Israel, a população remanescente em Judá após cada deportação, aqueles que foram deslocados para Judá pelos assírios ou pelos babilônios, os deportados e refugiados judaítas e israelitas na Assíria, Síria, Babilônia e Egito, aqueles que cultuavam Iahweh nas épocas persa e helenística e, finalmente, as comunidades ‘judaicas’ espalhadas pelo mundo mediterrâneo e além.
Mas, diz Philip R. Davies, “o Israel literário da literatura bíblica não é diretamente um produto destes grupos” (p. 75). Não parece que nem em Samaria nem na Mesopotâmia possam ser encontradas as condições para o Israel bíblico. Contudo, o fato de que estes são chamados de ‘judeus’, isto é, judaítas, “nos indica ser a Judeia o lar de ‘Israel’ e do culto de seu deus” (p. 75).
Por isso, o autor examinará o Judá pós-monárquico e a política imperial persa. Parece ter ocorrido um repovoamento de Judá sob Ciro e seus sucessores: pesquisas arqueológicas feitas em 1967 e 1968 revelam que os territórios circunjacentes das montanhas do norte e a Arabah mostram um incremento no número de assentamentos entre o Ferro II, que é o período monárquico, e o Período Persa, isto é, após 587, enquanto que o próprio Judá apresenta um crescimento em torno de 25%, diz P. R. Davies nas p. 77-78. E próximo a todos os assentamentos existem pequenos povoados sem muralhas.
Estes resultados sugerem uma política aquemênida de ruralização deliberada: na mesma linha de seus predecessores, as populações eram transportadas dentro do império, visando o desenvolvimento econômico, seja para a agricultura ou construção. “Por conseguinte”, conclui o autor, “os que voltaram para Yehud não eram necessariamente judeus ‘exilados’ voltando para casa, beneficiários de uma iluminada política de repatriação de exílios injustos, mas pessoas transportadas, movidas para regiões subdesenvolvidas ou sensíveis, vindas para atender às necessidades de uma política econômica imperial específica” (p. 78).
E aqui há uma inferência do autor que é importante para entendermos sua tese: “Talvez os ancestrais destes novos imigrantes viessem de Judá, como a literatura bíblica insiste, mas isto não é um dado que deve ser assumido sem mais. Talvez eles viessem de várias partes da Palestina, ou talvez mesmo de outro lugar (…) Quer fossem originários de Judá ou não, estas pessoas ou seus descendentes deveriam acreditar, ou reivindicar, que eles eram originários dali. Sem dúvida, os persas, para facilitar a cooperação com o processo, devem ter tentado persuadir estes extraditados de que eles estavam sendo reassentados em sua ‘terra natal’ (…) De fato, como eu mostrarei agora, algumas histórias bíblicas (como as histórias de Abraão e as histórias da conquista de Josué) parecem indicar a existência de uma dúvida entre alguns habitantes de Yehud de que eles tinham vivido na terra como seus antigos habitantes” (p. 78-79).
Esta discussão, diz Philip R. Davies, está baseada em um estudo de K. Hoglund, “O Contexto Aquemênida”, publicado em DAVIES, P. R. (ed.) Estudos sobre o Segundo Templo. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991 [obviamente publicado em inglês]. E Hoglund apresenta neste estudo evidências de que o Império Persa costumava manter a identidade de tais grupos pela garantia de uma distinção étnica em relação às populações circunstantes.
Mais dados arqueológicos: o Império Persa construiu nesta época uma cadeia de fortalezas na região, indo do Mediterrâneo até o Jordão e em direção ao Negev, acompanhando as maiores rotas de comércio da região. E Hoglund sugere que esta é uma intensificação da presença militar persa na região em resposta à ameaça da Grécia à costa mediterrânea e às rotas comerciais. “À luz desta militarização de Yehud, a missão de Neemias pode ser compreendida” (p. 80).
Mais luz sobre a organização social de Yehud no período persa vem da assim chamada comunidade do “Segundo Templo”, também apelidada pelos estudiosos soviéticos, em alemão, de Bürger-Tempel-Gemeinde. Esta é basicamente uma unidade social que surge da união do pessoal do templo com os proprietários de terra, criando um sistema econômico autônomo. Esta Bürger-Tempel-Gemeinde cria uma sociedade dentro da sociedade, um restrito grupo privilegiado não coextensivo com a sociedade mais ampla da província.
O autor conclui: “Baseado em dados bíblicos e não bíblicos, as condições sociais apropriadas para a emergência do Israel bíblico parecem poder ser encontradas no Yehud da época persa” (p. 83).
Daqui até o fim do capítulo, o autor procura avaliar os principais ingredientes do ‘Israel’ bíblico como uma criação desta nova sociedade. E estes ingredientes são, por exemplo, o exílio, os cananeus, a relação entre Yehud e Samaria e a aliança: todos são explicados como elementos do período persa. Ele conclui que o retrato bíblico do ‘Israel restaurado’ é um construto literário e seu caráter ideológico é a continuação da idealizado Israel ‘pré-exílico’ do ponto de vista de uma elite.
Ele diz na p. 89: “A conexão entre esta sociedade e Israel é a seguinte: a classe dos escribas desta nova sociedade cria uma identidade e uma herança para si mesma na Palestina, uma identidade expressa em um corpus literário vigoroso e marcante. A esta identidade é dado o nome ‘Israel’ (que agora existe ao lado de Judá). A própria sociedade, ou mais propriamente partes desta sociedade, transformar-se-á naquele Israel que ela mesma criou, na medida em que ela aceita a presumida história deste Israel como a sua própria história, aceita sua constituição, crenças e hábitos como seus, e começa a encarnar aquela identidade. Este é, como eu o vejo, um processo chave na transformação de uma sociedade histórica em um ‘Israel’ autoconsciente com uma longa e impressionante história”.
Todo este construto do autor sobre “a criação de um Israel idealizado em Yehud”, nas p. 84-89, me parece extraordinariamente fantasioso. Mas, como uma provocação, ele merece ser lido e discutido por todos os estudiosos de Bíblia. Eu sinto que, após a leitura deste livro, ninguém poderá fazer “História de Israel” como antes.
Quem escreveu a literatura bíblica e onde?
No Capítulo 6 P. R. Davies procura configurar com mais precisão as circunstâncias nas quais ele acredita tenha sido escrita a literatura bíblica e procura oferecer uma ideia do tipo de contexto institucional no qual um tal corpus adquire existência.
Uma questão importante é como a grande maioria dos estudiosos bíblicos pensa a origem da literatura bíblica: como um longo processo de evolução natural, dentro de um processo automático de transmissão, no qual a tradição oral torna-se escrita, sendo este escrito fielmente copiado por escribas e, de vez em quando, remodelado por redatores.
Assim, “muitos estudantes das ‘tradições’ bíblicas acreditam que em cada momento nós temos um enunciado coerente, às vezes equivalente a uma expressão viva da ‘fé de Israel’, que desemboca finalmente naquele cânon definitivo, a Bíblia (…) Em uma linguagem que confunde perfeitamente o histórico e o teológico, a ‘fé’ de Israel modela a ‘formação’ de sua ‘tradição’. Como resultado (…) a religião de Israel é a história das ‘tradições’ bíblicas” (p. 92-93). Mas qual é a ‘fé de Israel’? Qual é a ‘religião de Israel’? A formação do cânon é, porém, um processo muito tardio, e antes da literatura bíblica tornar-se Bíblia, sua natureza e sua relação com seus autores e com a sociedade deve ser esclarecida.
Que elementos, em Judá, no período persa provocaram a necessidade da criação deste corpus? Com exceção de certa quantia de material, relíquias do período pré-exílico, “não há necessidade de atribuir qualquer parte da formação de qualquer livro bíblico ao período dos reinos históricos de Judá e Israel”, diz P. R. Davies na p. 95. Do mesmo modo, além do Salmo 137 e do livro das Lamentações, “não há literatura na Bíblia com um cenário ‘exílico’ evidente”, continua o autor na mesma página.
O processo pelo qual livros eram copiados no mundo antigo não necessitava de um longo período para o seu desenvolvimento, como mostram os Manuscritos do Mar Morto, onde desenvolvimentos literários complexos ocorreram em um, aparentemente, curto espaço de tempo. Assim, o longo tempo presumido pelas análises da crítica das fontes, da crítica da redação e da crítica da tradição como fundamental para a evolução da literatura bíblica não é necessário.
O autor trabalha, agora, com o problema da língua hebraica. Análises da linguagem bíblica são frequentemente usadas para datar livros bíblicos, mas P. R. Davies argumenta, baseado em pesquisas feitas por E. A. Knauf, que o hebraico bíblico não corresponde a nenhuma das línguas israelitas, tais como estão nas inscrições. “Knauf conclui que o hebraico bíblico é a língua de um corpus literário que apareceu, segundo seu ponto de vista, nos períodos exílico e pós-exílico, uma Bildungssprache cuja emergência pressupõe o desaparecimento do Estado judeu da Idade do Ferro” (p. 100). Não há argumentos linguísticos para datar a literatura bíblica no período pré-exílico.
Quem escreveu a literatura bíblica? Em uma sociedade agrária, esta literatura não é o produto nem de toda a sociedade nem de indivíduos isolados, “mas de uma classe ou organismo, e surge de condições ideológicas, econômicas e políticas preestabelecidas” (p. 101). A literatura bíblica é o produto de uma classe profissional, quer dizer, escribas empregados pelo Templo. Nas sociedades agrárias não mais de 5% da população é letrada e “nunca devemos assumir, como tem sido frequentemente feito pelos estudiosos bíblicos, que ‘tradições’ populares orais naturalmente se transformam em literatura. ‘Literatura popular’ na Bíblia se parece mais com a ‘música popular’ nas obras de Bartok, Janacek ou Vaughan Williams” (p. 103).
E os leitores? Eles devem ser também profissionalmente letrados. “A literatura não é para o conjunto da sociedade, como pressuposto por muitos estudiosos bíblicos. Escreve-se, em boa parte, para o próprio consumo”, diz o autor na p. 104. Bibliotecas e arquivos estavam associados a templos e cortes, como se vê em Ugarit, Ebla, Mari, Assíria ou Tell el-Amarna (Egito). Alguma evidência de tais arquivos ou bibliotecas em Yehud? É possível, se nós pensarmos nas evidências exibidas por Josefo e fontes rabínicas sobre escritos guardados no Templo.
Como a literatura bíblica foi escrita e por quê?
No Capítulo 7 Philip R. Davies diz que muitos pesquisadores tendem a ofuscar, mais do que destacar, as várias etapas pelas quais os escritos bíblicos passam de produção literária de um grupo específico a texto canônico. Mas nós devemos perguntar por que é que esta literatura foi escrita e não partir do fato conhecido de que mais tarde ela foi canonizada como escritura. “Ela não foi escrita como uma ‘Bíblia’, nem mesmo como uma coleção de escrituras sagradas”, nos lembra Philip R. Davies na p. 108.
Entre as duas pontas do processo, a composição inicial e a canonização final, há muito a ser investigado. Philip R. Davies, após levantar várias questões e citar o testemunho de Josefo que fala dos 24 livros dos judeus no século I da EC, diz que nos próximos dois capítulos ele falará em três estágios: o primeiro inclui a criação do material ‘histórico’, ou seja, Gênesis-Reis, Crônicas, Esdras e Neemias; o segundo é a adoção desta literatura histórica e semi-jurídica como norma cultural e religiosa por certos grupos, com o desenvolvimento de uma determinada piedade e a adição de composições religiosas, como os Salmos; finalmente, ocorre o estabelecimento oficial de um conjunto de escritos como um arquivo nacional, com uma autoridade cultural e religiosa que o empurra na direção da canonicidade.
“Estes estágios não são necessariamente dispostos em uma sequência cronológica e nem mesmo tipológica, e eles constituem apenas uma tentativa preliminar de abordar o que é, de fato, um problema complexo”, explica Philip R. Davies na p. 109. Na verdade, mais tarde o autor desenvolveu o assunto com maior profundidade no livro Scribes and Schools. The Canonization of the Hebrew Scriptures [Escribas e Escolas. A Canonicidade das Escrituras Hebraicas]. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 1998.
Para Philip R. Davies, a criação destes manuscritos pelos escribas do Templo (e/ou da corte), sua constituição como um arquivo, sua adoção como um corpus literário e religioso (quase) definitivo aponta para decisões tomadas pela administração, ou seja, pela classe dominante.
O que ele quer dizer com isso? Que descrever como uma divindade criou o universo, adotou um povo, lhe deu uma terra e guiou a sua história passo a passo, não é apenas a historicização de festivais agrícolas conservados pela tradição. É muito mais “um ato de imperialismo ideológico através do qual uma casta governante se apropria das práticas dos camponeses nativos, privando-os de tudo o que é significativo para eles, e fazendo dessas práticas celebrações de sua ideologia dominante: sua posse da lei, sua libertação do Egito, sua caminhada pelo deserto” (p. 110).
Que tipo de casta governante precisa produzir este tipo de literatura e preservá-la? Se olharmos o Yehud do século V nós encontraremos uma sociedade em construção e cheia de tensões: habitantes locais versus imigrantes, urbano versus rural, homogeneidade versus heterogeneidade, cosmopolitismo versus provincianismo, um deus do céu versus divindades locais etc. Neste contexto, o estabelecimento de um centro administrativo e cultual em Jerusalém, com a celebração de uma aliança e a submissão a uma só divindade não ocorreria sem conflitos. O papel da literatura bíblica como instrumento de criação de uma identidade é fundamental para os dirigentes de Yehud.
Para Philip R. Davies, o Pentateuco e os Profetas Anteriores refletem exatamente esta nova sociedade em busca de identidade, na qual ‘Israel’ funciona como um componente fundamental, pois o nome designa um povo escolhido por Iahweh para habitar a Palestina, um povo que se liga a ele por uma aliança e uma lei e se distingue dos outros povos da região pela religião e pela origem étnica. “E na medida em que esta elite que gera esta história é constituída de imigrantes, o seu ‘Israel’ também tem origem entre imigrantes. O fetiche da santidade do culto servirá para fortalecer a autoridade do sacerdócio e assegurar a superioridade de Jerusalém. Será a pureza ritual que definirá a nação e Jerusalém que garantirá a presença da divindade. O reverso disto é que ao ‘povo da terra’, que tem direito inato à terra, será negado este direito a não ser que ele se conforme às definições cultuais e étnicas”, argumenta Philip R. Davies nas p. 112-113.
Para Philip R. Davies, o maior argumento que dá consistência à história bíblica é o da continuidade: ‘Israel’, o verdadeiro ‘Israel’ viveu em ‘Canaã’ durante um longo tempo. O Templo tem antiga origem e tradição, os reis de Judá são os predecessores (ungidos) dos sacerdotes (ungidos) de Yehud. “O triunfo ideológico da história bíblica é convencer de que o novo é realmente antigo”, diz P. R. Davies na p. 114.
Se toda esta argumentação do autor não passa de um exercício de imaginação e tem alguma chance de ser real, a nossa leitura atual da Bíblia deveria ser profundamente questionada.
Em seguida, usando um modelo de escolas superiores modernas – 5 “colleges”: o dos estudos jurídicos, o da composição e recitação litúrgica, o dos estudos sapienciais, o da historiografia e o da política – o autor tenta, no meu entender, de modo bastante exótico, reconstruir o processo através do qual os escribas do Templo de Jerusalém teriam produzido os manuscritos que acabaram se tornando Bíblia (cf. p. 115-124).
Qual é a função do produto final? Philip R. Davies vai dizer, nas p. 124-127, que esta produção literária objetiva o Estado (seus governantes) através de um repertório cultural bem definido, incluindo uma história, uma ‘tradição’ sapiencial, um corpus litúrgico, dando-lhe credibilidade e respeitabilidade. Este empreendimento não é meramente literário, portanto. É também político enquanto cria uma identidade judaica, que pode, inclusive, ser exportada.
Para quem lê isto pela primeira vez o raciocínio do autor parece altamente exótico. Vou repetir: com a literatura bíblica, inventada nas épocas persa e grega, surge a possibilidade do judaísmo em sentido cultural e, muito importante, como um produto de exportação. Na produção da literatura bíblica, não havia tradição a ser colocada por escrito: as histórias foram inventadas e depois organizadas na sequência atual (cf. p. 126). E o autor conclui: “Tal ausência resulta daquilo que eu disse sobre a não existência do ‘antigo Israel’ e explica muitas das características da narrativa historiográfica bíblica” (p. 127).
De literatura a Escritura
No Capítulo 8 Philip R. Davies tenta mostrar o processo de transição da literatura para a escritura, lembrando, entretanto, que não existe distinção entre estas duas categorias em hebraico, aramaico e grego. O autor avalia um série de testemunhos, como Flávio Josefo, os Manuscritos do Mar Morto, o IV Livro de Esdras, 1 e 2 Macabeus, o prólogo do livro do Eclesiástico ou Sirácida, concluindo que existia um corpus literário que define Judá e o judaísmo, mas que as opiniões e atitudes sobre este corpus literário eram bastante variadas, conforme os grupos então existentes.
Importante é sabermos que não existe no chamado período do Segundo Templo um ‘judaísmo’ único, monolítico, definido por uma ‘lei judaica’, e que os outros grupos seriam desvios deste ‘judaísmo normativo’, mas que cada grupo construía sua identidade e sua relação com a literatura bíblica de modo próprio e diferenciado. A pressão da cultura grega, no fenômeno conhecido como helenismo, deve ter algo a ver com a definição da escritura como uma doutrina de origem divina, como uma revelação da divindade, sugere o autor, embora ele não entre para valer no complicado campo dos estudos sobre o helenismo.
A emergência de Israel
No Capítulo 9, finalmente, Philip R. Davies sugere que o Estado Asmoneu (ou Macabeu) é que viabilizou, de fato, a transformação do Israel literário em um Israel histórico, por ser este o momento em que os reis-sacerdotes levaram o país o mais próximo possível do ideal presente nas leis bíblicas. A Bíblia, como uma criação literária e histórica é um conceito asmoneu, garante o autor na p. 154.
Confesso que estes dois últimos capítulos não me entusiasmaram nem me questionaram como os anteriores. Por isso, termino a leitura do livro buscando em outros (e já existem vários!) a continuação do debate. E o que se vê é que depois de oito anos da primeira edição do livro e cinco da segunda, o debate já avançou o suficiente para dar maior solidez a algumas das ideias expostas pelo autor e para rejeitar outras como improváveis ou impossíveis.
De modo geral,o livro nos deixa muito incomodados, alcançando o seu objetivo. Cito um exemplo. Uma postura que as ideias acima expostas colocam em xeque é a teológico-pastoral, corrente em nossas teologias bíblicas, tanto nos meios acadêmicos quanto nos populares, especialmente nas práticas litúrgicas. O que afirmamos todos os dias? Que a Bíblia é o produto da comunidade israelita, expressão da fé do povo de Israel, contrapondo, assim, a comunidade israelita, observadora de uma rigorosa ética de solidariedade, como povo de Deus que é, à orgiástica e opressora sociedade cananeia, transgressora dos valores éticos mais elementares.
Philip R. Davies, entre outras coisas, nos alerta para a confusão que fazemos entre sociedade e comunidade, textos bíblicos produzidos diretamente como “Sagrada Escritura”, tempo das narrativas bíblicas tomado como tempo cronológico, escrita como produto de toda a sociedade (ou comunidade?) israelita, origem externa de Israel que entra em Canaã ou se revolta e se separa dos cananeus para formar uma sociedade “teleologicamente orientada” a evoluir para as nossas Igrejas… Talvez devêssemos distinguir melhor entre exegese e história?
Quem quiser ver como a “teologia bíblica” (como paradigma teológico, hoje recusado por muitos) fica preocupada com as recentes descobertas e teorias sobre as origens de Israel e sobre o sincretismo javista/baalista existente em Canaã (lembro as polêmicas inscrições de Kuntillet ‘Ajrûd e Khirbet el-Qôm em que Iahweh e Asherah aparecem associados) leia o livro de GNUSE, R. K. No Other Gods: Emergent Monotheism in Israel. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997, 392 p. – ISBN 9781850756576. Gnuse é professor na Loyola University of the South, New Orleans, Louisiana, e nesta obra se esforça em propor uma superação da tradicional dicotomia da teologia bíblica entre baalismo e javismo, israelita e cananeu, que fundamenta várias de nossas aplicações dos textos bíblicos.
Esta resenha foi publicada em 2000.