A origem dos antigos Estados israelitas
leitura: 36 min
1. Nascimento e morte da monarquia a partir dos textos bíblicos
Até meados da década de 70 do século XX, raras vozes no mundo acadêmico ousariam contestar a versão abaixo para descrever a origem e as características da monarquia israelita.
Os filisteus, um dos “povos do mar” rechaçados pelo Egito quando tentaram invadi-lo, haviam ocupado uma fértil faixa costeira no sudoeste da Palestina, formando uma confederação de cinco cidades. Isto aconteceu por volta de 1150 a.C.
Ou porque viam em Israel uma ameaça às suas rotas comerciais ou por algum outro motivo, os filisteus avançaram com um exército organizado contra os agricultores israelitas. Aí por volta de 1050 a.C. eles atacaram e venceram os israelitas perto de Afeq, na região norte. Os filisteus não ocuparam todo o país, mas posicionaram-se em postos estratégicos, cortando as comunicações entre os vários grupos israelitas. Samuel tentou, por todos os meios, levantar e organizar o povo para uma luta de libertação. Em vão, pois outro fator evidente era a fragilidade da confederação tribal, minada por diferenças e rivalidades internas.
A saída, então, foi a escolha de um chefe único, colocado acima de todos os grupos israelitas autônomos. Nem que fosse alguém com poder despótico, superior às tribos todas em poder, com perigoso precedente de utilização deste poder contra parte da população. Para tal função foi escolhido um impetuoso benjaminita, Saul, aclamado rei em Guilgal (1Sm 11,14-15). Saul e seu filho Jônatas conseguiram uma boa vitória sobre os filisteus reunidos em Gibea e Micmas (1Sm 13-14), o que deu a Israel um alívio temporário.
Entretanto, a queda de Saul devia acontecer em breve. Samuel, significativo representante da antiga ordem, acabou rompendo com Saul. As coisas se agravaram, porém, quando o jovem pastor de Belém, Davi – ajudante do rei, amigo de Jônatas e marido de Mical, filhos de Saul – tornou-se seu rival. Ao enfrentar os filisteus mais uma vez, Saul foi derrotado, seus três filhos morreram em combate, e ele mesmo, muito ferido, “se lançou sobre a sua espada” (1Sm 31).
Foi então que Davi dirigiu-se com seus homens para Hebron e, com o consentimento dos filisteus e o apoio da população do sul, tornou-se o líder de Judá (2Sm 2,1-4). Isto teria acontecido por volta de 1010 a.C. Segundo as fontes bíblicas, dois anos mais tarde, Isbaal, o último filho vivo de Saul, foi assassinado e, através de hábeis manobras políticas, Davi foi também aclamado rei da região norte do território por todo o povo (2Sm 5,1-5).
Em seguida, ele conquistou Jerusalém, cidade jebuseia situada no sul, e fez dela a sua cidade. Assim, Davi conseguiu uma união, ainda que frágil, dos vários grupos israelitas. Após vencer os filisteus, Davi construiu um grande reino: submeteu Amon, Moab, Edom, os arameus etc. Porém, o Estado sob Davi funcionava, segundo o texto bíblico, de maneira austera e modesta, mantendo uma administração baseada no respeito às instituições tribais e com poucos funcionários (2Sm 8,15-18). Os países dominados pagavam tributo, instituiu-se a corveia – estrangeiros obrigados a trabalhar de graça nos projetos do Estado – e o rei não interferiu na administração da justiça tribal. Davi levou para Jerusalém a Arca da Aliança, nomeou os chefes dos sacerdotes e fez tudo o que pôde para o culto, procurando assim manter o consenso da população ao redor da nova instituição.
Salomão, que substituiu Davi no poder em 971 a.C., não era seu herdeiro natural e sua posse foi recheada de intrigas e inimizades: mandou matar seu irmão Adonias e o general Joab e desterrou o sacerdote chefe Abiatar.
Criou, segundo o texto bíblico, uma corte imensa e dispendiosa. 1Rs 4,22-23 conta de seus gastos: um absurdo em cereais e carne. Quanto à administração, Salomão introduziu novidades enormes, como, por exemplo, a divisão do norte em 12 províncias, desrespeitando a divisão tribal e nomeando prefeitos estranhos às populações locais. Cada província cuidava da manutenção da corte durante um mês (1Rs 4,1-19).
Seu exército era poderoso na época e seus carros de combate temíveis. A população pagava por este exército, fornecendo “a cevada e a palha para os cavalos e os animais de tração, no lugar onde fosse preciso, e cada qual segundo o seu turno”, diz 1Rs 4,28. Salomão, conseguiu, em geral, manter o país nos limites estabelecidos por seu pai Davi.
Mas sua habilidade revelou-se totalmente foi no comércio e na indústria, sempre segundo o texto bíblico. Construiu uma frota mercante que comerciava até com Ofir (atual Somália) e com todos os portos do Mar Vermelho, enquanto outra parte fazia a rota do Mediterrâneo até à região da atual Espanha. Seus navios eram construídos e tripulados pelos fenícios, mestres na arte da navegação.
Salomão dominou igualmente o comércio da Arábia, com o controle das caravanas. Fazia o comércio de cavalos da Cilícia e do Egito, através de suas agências de compra e venda. Exportava cobre e outros metais, gerando, com toda esta atividade comercial, uma expansão interna muito grande no país: cidades que se fortaleciam, construções de grandes obras públicas por toda a parte, a população que aumentava consideravelmente em número.
Porém, se olharmos menos ingenuamente este florescimento todo, veremos que a burocracia estatal exigia um número considerável de funcionários, altos cargos distribuídos a gente nascida na corte e que se julgava superior a todos os demais. As obras públicas requeriam dinheiro para sua concretização. O exército, recrutado entre o povo, não mais respeitando as tribos, precisava de muitos recursos para funcionar com eficiência.
Assim, Salomão colocou pesados impostos sobre a população israelita, forçou seus vassalos estrangeiros e a população cananeia à corveia e usou o trabalho escravo em grande escala nas suas minas e fundições no sul do país (1Rs 9,20-22). Usou também, embora haja notícias controvertidas na obra deuteronomista, a mão de obra grátis em Israel (segundo 1Rs 9,22 os israelitas não foram submetidos à corveia, mas segundo 1Rs 5,27;11,28 também os israelitas foram submetidos ao trabalho forçado para o Estado).
O Estado classista estava em pleno funcionamento. Com o correr do tempo, as diferenças de classe e as contradições internas foram se aprofundando até levar à divisão do território. A construção do Templo em Jerusalém, servindo ao mesmo tempo como santuário nacional e como capela real, transferia para o Estado todo o poder religioso.
Com a morte de Salomão, em 931 a.C., após 40 anos de governo, desabou a unidade do reino. O norte, agora chamado de Israel, consciente da exploração a que era submetido pelo poder central, separou-se do Estado davídico, que permaneceu em Judá. E o reino do norte existiu durante 209 anos, até ser massacrado pelo poderoso Império assírio, em 722 a.C, enquanto Judá durou até 586 a.C., quando foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que mandou para o exílio cerca de 20 mil judaítas. Estava acabada a monarquia.
Entre nós, o melhor livro para uma detalhada exposição e defesa desta versão é o de John Bright. Bright pertence à escola americana de historiografia de W. F. Albright e esta sua ‘História de Israel’ foi o manual mais utilizado por nós nos anos 70 e 80 do século passado. Mas não é só o Bright. Esta versão, com pequenas variações, continua sendo a dominante na maioria das histórias de Israel publicadas no Brasil até hoje1.
2. A ruptura do consenso
Entretanto, o consenso foi rompido. Pois isto que acabo de descrever nada mais é do que uma paráfrase racionalista do texto bíblico, hoje não mais aceita por todos. E, curiosamente, a crise começou com as reavaliações da origem, datação e significado das narrativas do Pentateuco, especialmente os estudos feitos por Thomas L. Thompson (1974), John Van Seters (1975), Hans Heinrich Schmid (1976) e Rolf Rendtorff (1977). E daí se estendeu à História de Israel, até mesmo porque muitas das dúvidas hoje existentes sobre o Pentateuco dependem da reconstrução da história de Israel e da história de sua religião2.
Ora, penso hoje que o chamado ‘consenso wellhauseniano’ sobre o Pentateuco e, especialmente, os estudos na linha de Gerhard Von Rad, Martin Noth e muitos outros, ao colocarem o Javista (J) no reinado de Davi e Salomão, sustentavam a historicidade da época, caracterizada até como “iluminismo salomônico”. Esta historicidade, por sua vez, era explicada pela Obra Histórica Deuteronomista (OHDtr), que, assim, garantia o J salomônico: um círculo fechado, vicioso, em que um texto bíblico amparava o outro. Assim, quando o J começou a ser deslocado para outra época pelos autores acima citados, o edifício inteiro desabou.
E, então, questões que pareciam definitivamente resolvidas, foram de novo colocadas: O que teria sido o primeiro ‘Estado Israelita’? Um reino unido, composto pelas tribos de Israel e Judá, dominando todo o território da Palestina e, posteriormente, sendo dividido em reinos do ‘norte’ e do ‘sul’? Ou seria tudo isto mera ficção, não tendo Israel e Judá jamais sido unidos? Existiu um Império davídico/salomônico ou só um pequeno reino sem maior importância? Se por acaso não existiu um grande reino davídico/salomônico, por que a Bíblia Hebraica o descreve? Enfim, o que teria acontecido na região central da Palestina nos séculos X e IX a.C.? Além da Bíblia Hebraica, onde mais podemos buscar respostas?
3. As fontes: seu peso, seu uso
Claro, estas questões precisam ser recolocadas, até mesmo porque o ‘antigo Israel’, algo que parecíamos conhecer muito bem, é hoje uma incógnita, como denunciou o estudioso britânico Philip R. Davies. Ele concluiu que o ‘antigo Israel’ é um construto erudito, resultante da tomada de uma construção literária, a narrativa bíblica, tornada objeto de investigação histórica. E, como demonstram os estudos sobre o Pentateuco, o Israel bíblico é para nós um problema, não um dado sobre o qual se apoiar sem mais.
Este construto erudito, além de suscitar muitos outros problemas, é contraditório, pois a maioria dos estudiosos, “embora sabendo que a estória de Israel do Gênesis a Juízes não deve ser tratada como história, prossegue, não obstante, com o resto da estória bíblica, de Saul ou Davi em diante, na pressuposição de que, a partir deste ponto, o obviamente literário tornou-se o obviamente histórico”, diz Philip R. Davies na p. 26. E pergunta: “Pode alguém realmente deixar de lado a primeira parte da história literária de Israel, reter a segunda parte e ainda tratá-la como uma entidade histórica?” Para ele uma história de Israel que começa neste ponto deveria ser uma entidade bem diferente do Israel literário, que pressupõe a família patriarcal, a escravidão no Egito, a conquista da terra que lhe é dada por Deus e assim por diante.
Para Philip R. Davies, não podemos identificar automaticamente a população da Palestina na Idade do Ferro (a partir de 1200 a.C.), e de certo modo também a do período persa, com o ‘Israel’ bíblico. “Nós não podemos transferir automaticamente nenhuma das características do ‘Israel’ bíblico para as páginas da história da Palestina (…) Nós temos que extrair nossa definição do povo da Palestina de suas próprias relíquias. Isto significa excluir a literatura bíblica” [sublinhado meu], conclui Philip R. Davies na p. 51.
Para o autor, a literatura bíblica foi composta a partir da época persa, sugerindo Philip R. Davies, mais para o final do livro, que o Estado Asmoneu (ou Macabeu) é que viabilizou, de fato, a transformação do Israel literário em um Israel histórico, por ser este o momento em que os reis-sacerdotes levaram o país o mais próximo possível do ideal presente nas leis bíblicas. A Bíblia, garante o autor na p. 154, como uma criação literária e histórica é um conceito asmoneu3.
Considerada mais polêmica ainda do que a de Philip R. Davies é a postura do norte-americano Thomas L. Thompson, cujo programa é fazer uma história do Levante Sul sem contar com os míticos textos bíblicos e considerando todos os outros povos da região, não só Israel, pois este constitui apenas uma parte desta região. Thomas L. Thompson é contra qualquer arqueologia e história bíblicas! Para ele, o pior erro metodológico no uso das fontes é harmonizar a arqueologia com as narrativas bíblicas4.
Aliás, o uso do texto bíblico como fonte válida para a escrita da História de Israel, tem sido alvo de muitos debates e grandes controvérsias. E não há como fugir da questão, pelo menos enquanto muitas ‘Histórias de Israel’ continuarem a ser nada mais do que uma paráfrase racionalista da narrativa bíblica.
Em uma das reuniões do Seminário Europeu sobre Metodologia Histórica, por exemplo, debatendo o assunto, alguns dos participantes acabaram classificando qualquer História de Israel como fictícia, enquanto outros defenderam que o texto bíblico usado cuidadosa e criticamente é um elemento válido para um empreendimento deste tipo. Na conclusão do livro onde foram publicados os debates deste encontro há uma boa amostragem do problema do uso das fontes.
Diz Lester L. Grabbe, coordenador do grupo, que parece haver quatro possíveis atitudes a respeito da questão:
- assumir a impossibilidade de se fazer uma ‘História de Israel’.
- ignorar o texto bíblico como um todo e escrever uma história fundamentada apenas nos dados arqueológicos e outras evidências primárias: esta é a postura verdadeiramente ‘minimalista’, mas o problema é que sem o texto bíblico muitas interpretações dos dados tornam-se extremamente difíceis.
- dar prioridade aos dados primários, mas fazendo uso do texto bíblico como fonte secundária usada com cautela.
- aceitar a narrativa bíblica sempre, exceto quando ela se mostra como absolutamente falseada: esta é a postura caracterizada como ‘maximalista’, e ninguém neste grupo a defendeu.
O fato é que as posturas 1 e 4 são inconciliáveis e estão fora das possibilidades de uma ‘História de Israel’ mais crítica: isto porque a 1 rejeita a possibilidade concreta da história e a 4 trata o texto bíblico com peso diferente das outras fontes históricas. Somente o diálogo entre as posições 2 e 3 podem levar a um resultado positivo. Praticamente todos os membros do seminário ficaram nesta posição 3 ou, talvez, entre a 2 e a 3, concluiu Lester L. Grabbe5.
Parece-me, neste ponto, que já ficou claro para o leitor a importância do exame das fontes primárias, se quisermos saber algo sobre a monarquia.
Aliás, as fontes sobre a monarquia israelita são de quatro tipos diferentes, podendo ser classificadas, portanto, 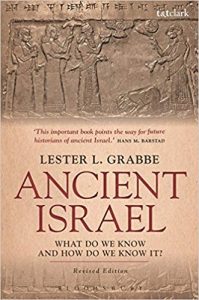 em quatro níveis: antropologia histórica, fontes primárias, fontes secundárias e fontes terciárias.
em quatro níveis: antropologia histórica, fontes primárias, fontes secundárias e fontes terciárias.
Antropologia histórica: considera os dados provenientes de estudos da geografia, do clima, dos assentamentos humanos, da agricultura, da organização social e da economia de uma região e de sua população.
Fontes primárias: fontes escritas provenientes da Palestina, evidência arqueológica da Palestina e fontes escritas fora da Palestina, todas mais ou menos contemporâneas aos eventos que relatam, tais como a Estela de Merneptah, a Inscrição de Tel Dan, a Estela de Mesha, os Óstraca de Samaria, os Selos lemelek de Judá, a Inscrição de Siloé, a Carta Yavneh Yam, o Calendário de Gezer, os Óstraca de Arad, as Cartas de Lakish, os Anais de Salmanasar III, o Obelisco Negro de Salmanasar III, os testemunhos de reis assírios e babilônicos como Adad-nirari III, Tiglat-Pileser III, Sargão II, Senaquerib, Assaradon, Assurbanipal, Nabucodonosor, e do Egito o Faraó Sheshonq…
Fontes Secundárias: a Bíblia Hebraica, especialmente o Pentateuco e a Obra Histórica Deuteronomista, escritos muito tempo depois dos fatos e com objetivos mais teológicos do que históricos.
Fontes Terciárias: livros da Bíblia Hebraica que retomam fontes secundárias, como os livros das Crônicas que retomam a OHDtr.
O alemão Herbert Niehr, em Some Aspects of Working with the Textual Sources [Alguns Aspectos do Trabalho com as Fontes Escritas], por exemplo, ao fazer tal distinção, repassa os problemas metodológicos relativos ao uso de cada uma destas fontes, argumentando que as tentativas para superar as diferenças existentes entre elas devem ser feitas cuidadosamente e concluindo que podemos fazer apenas tentativas de escrever uma História de Israel, sempre sujeita a um processo contínuo de mudança, até mesmo porque quanto mais evidência primária tivermos com o avanço da pesquisa, menor valor devemos atribuir aos textos da Bíblia Hebraica6.
4. Dois exemplos de fontes primárias: as estelas de Tel Dan e de Merneptah
Um exemplo de fonte primária muito interessante é a Estela de Tel Dan. Na localidade de Tel Dan, norte de Israel, em julho de 1993, em escavação sob a direção do arqueólogo israelense Avraham Biran, foi descoberto um fragmento de uma estela de basalto de 32 por 22 cm, com uma inscrição em aramaico, publicada por A. Biran e J. Naveh em novembro de 1993. Cerca de 12 meses mais tarde, dois outros fragmentos menores foram descobertos na mesma localidade, mas em um ponto diferente do primeiro.
 Os arqueólogos agruparam os três fragmentos, avaliando serem partes da mesma estela e produzindo um texto coerente. Datada no século IX a.C., a inscrição foi aparentemente escrita pelo rei Hazael de Damasco, na qual ele se vangloria de ter assassinado dois reis israelitas, Jorão (de Israel) e Ocozias (de Judá) e de ter instalado Jeú no trono de Israel, o que teria ocorrido por volta de 841 a.C. (estes episódios, com enfoque diferente, são narrados em 2Rs 8,7-10,36).
Os arqueólogos agruparam os três fragmentos, avaliando serem partes da mesma estela e produzindo um texto coerente. Datada no século IX a.C., a inscrição foi aparentemente escrita pelo rei Hazael de Damasco, na qual ele se vangloria de ter assassinado dois reis israelitas, Jorão (de Israel) e Ocozias (de Judá) e de ter instalado Jeú no trono de Israel, o que teria ocorrido por volta de 841 a.C. (estes episódios, com enfoque diferente, são narrados em 2Rs 8,7-10,36).
Mas o que causou grande rebuliço foi um termo encontrado no fragmento maior: bytdwd. Aparentemente, a tradução mais provável seria casa de Davi. Daí, a grande novidade: seria esta a primeira menção extrabíblica da dinastia davídica e até mesmo da existência do rei Davi, do qual só temos (ou tínhamos) informações na Bíblia Hebraica.
Porém, contestações a tal leitura continuam a ser feitas, pois outras traduções são possíveis, como casa do  amado, lendo-se dwd não como “David”, mas como dôd, um epíteto para a divindade, Iahweh, no caso; ou, também, bytdwd poderia ser o nome de uma localidade. Ainda: os fragmentos menores são seguramente parte de uma mesma pedra, mas é incerto se eles pertencem à mesma estela da qual o maior faz parte. Qual é o problema? É que, se bytdwd está no fragmento maior, os nomes dos dois reis, sendo um deles, Ocozias, segundo a Bíblia, davídico, estão nos fragmentos menores. E a leitura “casa de Davi” seria induzida por esta segunda informação.
amado, lendo-se dwd não como “David”, mas como dôd, um epíteto para a divindade, Iahweh, no caso; ou, também, bytdwd poderia ser o nome de uma localidade. Ainda: os fragmentos menores são seguramente parte de uma mesma pedra, mas é incerto se eles pertencem à mesma estela da qual o maior faz parte. Qual é o problema? É que, se bytdwd está no fragmento maior, os nomes dos dois reis, sendo um deles, Ocozias, segundo a Bíblia, davídico, estão nos fragmentos menores. E a leitura “casa de Davi” seria induzida por esta segunda informação.
A polêmica não está encerrada, como se pode ver em artigo do professor de Estudos Semíticos da Universidade La Sapienza, de Roma, Giovanni Garbini ou nas conclusões de Niels Peter Lemche, do Instituto de Exegese Bíblica da Universidade de Copenhague, Dinamarca7.
Contudo, a menção de Israel como reino, no norte da Palestina, é interessante. Imediatamente nos faz lembrar de outra famosa inscrição, a Estela de Merneptah. Esta estela comemora os feitos do Faraó Merneptah (1224-1214 a.C. ou 1213-1203 a.C., segundo outra cronologia), filho e sucessor de Ramsés II, e foi encontrada em 1896 por Flinders Petrie no templo mortuário do faraó em Tebas. Pode ser datada por volta de 1220 a.C. (ou 1208 a.C.), quinto ano do governo de Merneptah, e celebra sua vitória sobre líbios que ameaçavam o Egito.
Lá no final da inscrição, há o seguinte: Os príncipes estão prostrados dizendo: Paz. Entre os Nove Arcos nenhum levanta a cabeça. Tehenu [=Líbia] está devastado; o Hatti está em paz. Canaã está privada de toda a sua maldade; Ascalon está deportada; Gazer foi tomada; Yanoam está como se não existisse mais; Israel está aniquilado e não tem mais semente; O Haru [=Canaã] está em viuvez diante do Egito.
 Esta é a primeira menção de Israel em documentos extrabíblicos que conhecemos. Mas a identificação de quem ou o que é este “Israel” não é nada simples e tem gerado muitas controvérsias. John Bright, por exemplo, viu a inscrição como seguro testemunho de que Israel já estava na Palestina nesta época – embora tenha acrescentado uma nota na terceira edição do livro, em 1981, dizendo que este Israel pode ser pré-mosaico e não o grupo do êxodo – e William G. Dever vê aqui um ‘proto-Israel”, enquanto outros, tentando desligar este “Israel” da referência bíblica, traduziram o termo egípcio por Jezrael, uma referência geográfica, e assim por diante. Mas a maioria lê mesmo o termo “Israel” na estela. Só que alguns acham que é um grupo étnico bem definido, enquanto outros pensam que seja um grupo nômade das montanhas da Palestina… Para Niels Peter Lemche, o importante é que, seja qual for a natureza deste “Israel”, a estela de Merneptah atesta a presença desta entidade nas colinas do norte da Palestina e isto pode ter relação com o posterior surgimento do reino de Israel nesta região8.
Esta é a primeira menção de Israel em documentos extrabíblicos que conhecemos. Mas a identificação de quem ou o que é este “Israel” não é nada simples e tem gerado muitas controvérsias. John Bright, por exemplo, viu a inscrição como seguro testemunho de que Israel já estava na Palestina nesta época – embora tenha acrescentado uma nota na terceira edição do livro, em 1981, dizendo que este Israel pode ser pré-mosaico e não o grupo do êxodo – e William G. Dever vê aqui um ‘proto-Israel”, enquanto outros, tentando desligar este “Israel” da referência bíblica, traduziram o termo egípcio por Jezrael, uma referência geográfica, e assim por diante. Mas a maioria lê mesmo o termo “Israel” na estela. Só que alguns acham que é um grupo étnico bem definido, enquanto outros pensam que seja um grupo nômade das montanhas da Palestina… Para Niels Peter Lemche, o importante é que, seja qual for a natureza deste “Israel”, a estela de Merneptah atesta a presença desta entidade nas colinas do norte da Palestina e isto pode ter relação com o posterior surgimento do reino de Israel nesta região8.
Ah, e é claro: a referência da estela à “semente” de Israel, tanto pode ser aos suprimentos agrícolas quanto à descendência! Mas quando e como surgiu Israel como Estado na região?
5. A questão teórica: como se forma um Estado antigo?
Sem dúvida, a questão da origem dos antigos Estados Israelitas passa pela discussão da noção de Estado como forma de organização política. No volume de 1996, editado por Volkmar Fritz & Philip R. Davies sobre As Origens dos Antigos Estados Israelitas, no qual é apresentada a recente controvérsia sobre a existência ou não de uma monarquia unida em Israel e, especialmente, de um Império davídico/salomônico e que traz dez conferências de renomados especialistas apresentadas em um Colóquio Internacional realizado em Jerusalém sobre A Formação de um Estado. Problemas Históricos, Arqueológicos e Sociológicos no Período da Monarquia Unida em Israel, a alemã Christa Schäfer-Lichtenberger sugere que somente a arqueologia não resolverá esta discussão.
Ela questiona a aplicação pura e simples do conceito moderno de “Estado” às formas de organização política das comunidades antigas como forma de se desvelar sua existência e parte para uma discussão teórica na qual tentará definir a noção de Estado a partir dos estudos etnosociológicos de Georg Jellinek, Max Weber e Henri Claessen.
Claessen e outros estabeleceram que para se explicar a origem de um Estado é preciso considerar a emergência de vários fatores, tais como o crescimento da população e suas necessidades, as guerras e as ameaças de guerras, as conquistas e invasões, o desenvolvimento da produção e o aparecimento do excedente, a cobrança de tributos, o surgimento de uma ideologia comum e conceitos de legitimação dos governantes, além da influência dos Estados vizinhos já existentes.
Seguindo especialmente Henri Claessen, Christa vai distinguir três fases de desenvolvimento do Estado primitivo: o estado primitivo incoativo, o estado primitivo típico e o estado primitivo de transição. O processo de desenvolvimento de uma fase para outra passa pelo enfraquecimento dos laços de parentesco e o fortalecimento das ações políticas centralizadas, pela transformação da posse comum da terra em propriedade privada dos meios de produção e pela substituição de uma economia de trocas de bens e serviços em uma economia de mercado, fortalecendo o antagonismo de classes, até o desenvolvimento de especializações por parte de oficiais estatais, o estabelecimento da taxação regular e constante, a codificação de leis e a constituição de estruturas jurídicas controladas pelo poder central.
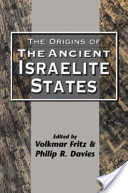 Em seguida, considerando sete critérios usados tanto por Weber como por Claessen, segundo a autora, – população, território, governo centralizado, independência política, estratificação, produção de excedente e tributos, ideologia comum e conceitos de legitimação – e usando os dados do Deuteronomista, Christa vai classificar o reino de Saul como um estado incoativo e o reino de Davi como um estado heterogêneo, pois este último, pelos critérios de governo centralizado, estratificação social e produção de excedente, é ainda um estado incoativo, embora já possua algumas características de estado primitivo típico, mas pelos critérios de população, território, independência política e ideologia, ele já é um estado de transição9.
Em seguida, considerando sete critérios usados tanto por Weber como por Claessen, segundo a autora, – população, território, governo centralizado, independência política, estratificação, produção de excedente e tributos, ideologia comum e conceitos de legitimação – e usando os dados do Deuteronomista, Christa vai classificar o reino de Saul como um estado incoativo e o reino de Davi como um estado heterogêneo, pois este último, pelos critérios de governo centralizado, estratificação social e produção de excedente, é ainda um estado incoativo, embora já possua algumas características de estado primitivo típico, mas pelos critérios de população, território, independência política e ideologia, ele já é um estado de transição9.
O estudo é interessante quando questiona algumas posturas pouco elaboradas teoricamente de certos especialistas, mas o restante deixa uma sensação de “dèjá vu”! As categorias socioantropológicas da autora sobre o Estado me parecem insuficientes – especialmente quando confrontadas com as várias tentativas marxistas na área – e ela não escapa de uma leitura do Deuteronomista como sua fonte principal. Tem-se a impressão de que a leitura da OHDtr é que oferece as categorias etnosociológicas para a análise e não o contrário. No mínimo, deixaria Thomas L. Thompson desconfiado e Niels Peter Lemche contrariado!
Para ficar ainda no campo da discussão teórica, dizem especialistas de tendência marxista que analisam as sociedades de tipo tributário (também chamadas “asiáticas”, porque mais comuns naquele continente) que a sociedade tribal de tipo patriarcal já representa uma forma típica de transição da comunidade primitiva para a sociedade de classes. As contradições da sociedade tribal aumentam progressivamente até provocarem o aparecimento do Estado, que inicialmente é uma função (de defesa, de grande obras etc), mas que passa a ser uma exploração.
Da economia de autossubsistência, através do desenvolvimento das forças produtivas, passa-se a uma economia tribo-patriarcal baseada em certa hierarquização que permite a acumulação para determinadas camadas: há os privilégios dos homens sobre as mulheres, do primogênito sobre seus irmãos, das tribos líderes sobre as outras tribos etc. É um embrião de divisão de classes, anterior ao Estado, detectável em Israel já no período conhecido biblicamente como “dos juízes”.
Da economia tribo-patriarcal passa-se à economia do Estado tributário, através da necessidade de obras conjuntas (defesa contra inimigos, trabalhos de irrigação, construção de muralhas, por exemplo) e da dominação de uma linhagem superior que se impõe sobre as outras (família do líder, como Davi e seus descendentes) e que passa a controlar também o comércio intertribal. Aliás, na sociedade tributária o comércio é possível só a partir da acumulação do excedente feita pelo Estado.
Neste tipo de sociedade a escravidão só existe de maneira secundária: o peso da produção não cai sobre os escravos, pois a propriedade coletiva da terra, que continua como na época tribal, torna-os desnecessários. A mão de obra é familiar.
Assim, o Estado tributário que inicialmente nascera com funções públicas (defesa, organização etc) passa, pouco a pouco, a ser um autêntico poder de classe (a classe que se constitui nele) para manter e aumentar a exploração. O Estado é consequência da exploração de classe, ele não é a sua causa. O despotismo do governo é também uma consequência da formação de classes.
A grande contradição interna desta organização: coexistência de estruturas comunitárias e de estruturas de classe. Se ela não evolui, as sociedades tributárias ficam estagnadas no seu nível social.
A terra pertence a Iahweh em Israel, mas o Estado detém o poder religioso através dos templos, controlando a vontade da divindade através dos sacerdotes, profetas e juízes pagos pelo governo. O indivíduo passa assim, na sociedade tributária, por duas mediações: da comunidade tribal a que pertence e do Estado tributário10.
6. Buscando outras soluções: Lemche e Finkelstein
Lester G. Grabbe nos lembra, na conclusão do volume sobre o primeiro Seminário Europeu sobre Metodologia Histórica, do qual já falamos acima, que durante as discussões em Dublin, em 1996, ninguém negou a existência de um ‘reino de Israel’, assim como de um ‘reino de Judá’, testemunhados pela Assíria, mas os participantes do seminário fizeram objeções a duas concepções: uma é a de que o construto literário do ‘Israel bíblico’ pode ser diretamente traduzido em termos históricos; e a outra é a de que ‘Israel’ deve canalizar e dominar o estudo da região na antigüidade. A descrição bíblica de um grande Império israelita foi tratada com muito ceticismo [sublinhado meu].
Por tudo isto, é que se buscam outras soluções. Como a de Niels Peter Lemche que, no volume de 1996, editado por Volkmar Fritz & Philip R. Davies sobre As Origens dos Antigos Estados Israelitas, propõe o conceito de sociedade patronal [patronage society] para explicar a variedade social da Síria, e especialmente da Palestina, no Período do Bronze Recente (ca. 1500-1200 a.C.).
Este modelo, freqüentemente chamado de ‘sistema social mediterrâneo’ parece ter sido onipresente em sociedades com um certo grau de complexidade, mas que não constituíam ainda Estados burocráticos. E Lemche define como típico de uma sociedade patronal sua organização vertical, onde no topo encontramos o patrono [patron], um membro de uma linhagem líder, e abaixo dele seus clientes [clients], normalmente homens e suas famílias.
Lemche explica que a ligação entre patrono e cliente é de tipo pessoal, com juramento de lealdade do cliente ao patrão e de proteção do patrono para o cliente. Em tal sociedade, códigos de leis não são necessários: ninguém vai dizer ao patrono como julgar.
A crise da Palestina que aparece nas Cartas de Tell el-Amarna (século XIV a.C.) pode ser explicada, segundo Lemche, a partir desta realidade: os senhores das cidades-estado palestinas vêem o faraó como seu patrono e reivindicam sua proteção em nome de sua fidelidade; porém, o Estado egípcio não os vê do mesmo modo e os trata de modo impessoal, seguindo normas burocráticas. Daí, a (falsa) percepção dos pequenos reis das cidades de Canaã de que foram abandonados pelo faraó, que não está cuidando de seus interesses na região.
Sem dúvida, houve uma crise social na Palestina no final do Bronze Recente. E a proposta de Lemche para o que pode ter acontecido é a seguinte: as fortalezas do patrono foram substituídas por estruturas locais, por povoados, organizados sem um sistema de proteção como o do patrono – o assim chamado ‘rei’ – ou com patronos locais.
Portanto, o aparecimento dos povoados da região montanhosa do centro da Palestina representa, simplesmente, um intervalo entre dois períodos de sistemas patronais mais extensos e melhor estabelecidos. Pois o que aconteceu no século X a.C. foi, de fato, o restabelecimento de um sistema patronal semelhante ao anterior11.
Já Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, no capítulo sobre a monarquia davídico-salomônica de seu livro The Bible Unearthed, nos lembram como, para os leitores da Bíblia, Davi e Salomão representam uma idade de ouro, enquanto que para os estudiosos representavam, até recentemente, o primeiro período bíblico realmente histórico. Hoje, a crise se abateu sobre o “império” davídico-salomônico. E se perguntam: Davi e Salomão existiram? Mostram como os minimalistas dizem: “não”, os argumentos pró e contra a postura dos minimalistas, e colocam aquela que é para eles a questão chave: o que diz a arqueologia sobre Davi/Salomão?12
Para Finkelstein e Silberman a evolução dos primeiros assentamentos para modestos reinos é um processo 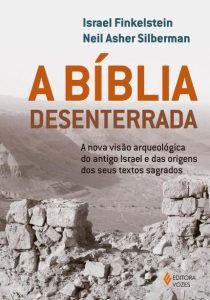 possível e até necessário na região. Descrevendo as características do território de Judá, concluem que este permaneceu pouco desenvolvido, escassamente habitado e isolado no período atribuído pela Bíblia a Davi/Salomão: é o que a arqueologia descobriu.
possível e até necessário na região. Descrevendo as características do território de Judá, concluem que este permaneceu pouco desenvolvido, escassamente habitado e isolado no período atribuído pela Bíblia a Davi/Salomão: é o que a arqueologia descobriu.
E Jerusalém? As escavações de Yigal Shiloh, da Universidade Hebraica de Jerusalém, nas décadas de 70 e 80, na Jerusalém das Idades do Bronze e do Ferro mostram que não há nenhuma evidência de uma ocupação no século X a.C. A postura mais otimista aponta para um vilarejo no século décimo, enquanto que o resto de Judá, na mesma época seria composto por cerca de 20 pequenos povoados e poucos milhares de habitantes, tendo havido, portanto, dificilmente, um grande império davídico.
Mas e as conquistas davídicas? Até recentemente, em qualquer lugar em que se encontravam cidades destruídas por volta do ano 1000 a.C. isto era atribuído a Davi por causa das narrativas de Samuel. Teoricamente é possível que os israelitas da região montanhosa tenham controlado pequenas cidades filistéias como Tel Qasile, escavada por Benjamin Mazar em 1948-1950, ou até mesmo cidades cananéias maiores como Gezer, Meguido ou Bet-Shean. Mas será que o fizeram?
E o glorioso reino de Salomão? Em Jerusalém, nada foi encontrado, mas e Meguido, Hasor e Gezer? Em Meguido P. L. O. Guy, da Universidade de Chicago, descobriu, nas décadas de 20 e 30, os “estábulos” de Salomão. Sua interpretação dos edifícios achados se baseou em 1Rs 7,12;9,15.19. Na década de 50, Yigael Yadin descobriu, ou identificou nas descobertas de outros, as “portas salomônicas” de Hasor, Gezer e Meguido. Também a chave aqui foi 1Rs 9,15, que diz: “Eis o que se refere à corvéia que o rei Salomão organizou para construir o Templo de Iahweh, seu palácio, o Melo e o muro de Jerusalém, bem como Hasor, Meguido, Gazer [=Gezer]”.
Mas, na década de 60, Y. Yadin escava novamente Meguido e faz a descoberta de um belo palácio que parecia ligado à porta da cidade e abaixo dos “estábulos”, o que o leva à seguinte conclusão: os palácios [a Universidade de Chicago encontrara outro antes] e a porta de Meguido são salomônicas, enquanto que os “estábulos” seriam da época de Acab, rei de Israel do norte no século IX a.C.
Durante muitos anos, estas “portas salomônicas” de Hasor, Gezer e Meguido foram o mais poderoso suporte arqueológico ao texto bíblico. Mas o modelo arquitetônico dos palácios salomônicos veio dos palácios bit hilani da Síria, e estes, se descobriu, só aparecem no século IX a.C., pelo menos meio século após a época de Salomão. “Como poderiam os arquitetos de Salomão ter adotado um estilo arquitetônico que ainda não existia?”, se perguntam os autores na p. 140. E o contraste entre Meguido e Jerusalém? Como um rei constrói fabulosos palácios em uma cidade provincial e governa a partir de um modesto povoado?
Pois bem, dizem Finkelstein e Silberman na p. 140: “Agora nós sabemos que a evidência arqueológica para a grande extensão das conquistas davídicas e para a grandiosidade do reino salomônico foi o resultado de datações equivocadas”.
Dois tipos de evidência fundavam os argumentos em favor de Davi e Salomão: o fim da típica cerâmica filistéia por volta de 1000 a.C. fundamentava as conquistas davídicas; e as construções das monumentais portas e palácios de Hasor, Gezer e Meguido testemunhavam o reino de Salomão. Nós últimos anos, entretanto, estas evidências começaram a desabar [aqui os autores remetem o leitor ao Apêndice D, pp. 340-344, onde os seus argumentos são mais detalhados].
Primeiro, a cerâmica filistéia continua após Davi e não serve mais para datar suas conquistas; segundo, os estilos arquitetônicos e as cerâmicas de Hasor, Gezer e Meguido atribuídos à época salomônica são, de fato, do século IX a.C.; e, por último, testes com o Carbono 14 em Meguido e outras localidades apontam para datas da metade do século IX a.C.
Enfim: a arqueologia mostra hoje que é preciso “abaixar” as datas em cerca de um século [anoto aqui que esta “cronologia baixa” de Finkelstein tem dado muito o que falar nos meios acadêmicos!]. O que se atribuía ao século XI é da metade do século X e o que era datado na época de Salomão deve ser visto como pertencendo ao século IX a.C.
Dizem os autores: “Não há razões para duvidarmos da historicidade de Davi e Salomão. Há, sim, muitos motivos para questionarmos as dimensões e o esplendor de seus reinos. Mas, e se não existiu um grande império, nem monumentos, nem uma magnífica capital, qual era a natureza do reino de Davi?” (p. 142).
O quadro é o seguinte: região rural… nenhum documento escrito… nenhum sinal de uma estrutura cultural necessária em uma monarquia… do ponto de visto demográfico, de Jerusalém para o norte, povoamento mais denso; de Jerusalém para o sul, mais escasso… estimativa populacional: dos 45 mil habitantes da região montanhosa, cerca de 40 mil habitariam os povoados do norte e apenas 5 mil se distribuíam entre Jerusalém, Hebron e mais uns 20 pequenos povoados de Judá, com grupos continuando o pastoreio…
Davi e seus descendentes? “No século décimo, pelo menos, seu governo não possuía nenhum império, nem cidades com palácios, nem uma espetacular capital. Arqueologicamente, de Davi e Salomão só podemos dizer que eles existiram – e que sua lenda perdurou” (p. 143).
Entretanto, quando o Deuteronomista escreveu sua obra no século VII a.C., Jerusalém tinha todas as estruturas de uma sofisticada capital monárquica. Então, o ambiente desta época é que serviu de pano de fundo para a narrativa de um mítica idade de ouro. Uma bem elaborada teologia ligava Josias e o destino de todo o povo de Israel à herança davídica: ele unificara o território, acabara com o ciclo idolátrico da época dos Juízes e concretizara a promessa feita a Abraão de um vasto e poderoso reino. Josias era o novo Davi e Iahweh cumprira suas promessas “O que o historiador deuteronomista queria dizer é simples e forte: existe ainda uma maneira de reconquistar a glória do passado” (p. 144).
Bibliografia
ATHAS, G. Tel Dan Inscription: A Reappraisal and a New Introduction. London: Bloomsbury T & T Clark, 2009.
CARDOSO, C. F. S. (org.) Modo de produção asiático: Nova visita a um velho conceito. Rio de Janeiro: Campus, 1990.
DA SILVA, A. J. A história de Israel na pesquisa atual. In: História de Israel e as pesquisas mais recentes. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 43-87.
DA SILVA, A. J. A história de Israel no debate atual. Artigo na Ayrton’s Biblical Page.
DAVIES, P. R. In Search of ‘Ancient Israel’. London: Bloomsbury T & T Clark, [1992] 2005. 2. ed. 2015. Resenha aqui.
DIETRICH, W. Die frühe Königszeit in Israel. 10. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer, 1997.
DONNER, H. História de Israel e dos Povos Vizinhos I-II. 7. ed. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2017.
FINKELSTEIN, I. O reino esquecido: arqueologia e história de Israel Norte. São Paulo: Paulus, 2015.
FINKELSTEIN, I. The Forgotten Kingdom: The Archaeology and History of Northern Israel. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013. Disponível online.
FINKELSTEIN, I.; MAZAR, A. The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007. Disponível online.
FINKELSTEIN, I.; SILBERMAN, N. A. A Bíblia desenterrada: A nova visão arqueológica do antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados. Petrópolis: Vozes, 2018. Resenha aqui.
FINKELSTEIN, I. ; SILBERMAN, N. A. A Bíblia não tinha razão. São Paulo: A Girafa, 2003. Resenha aqui.
FINKELSTEIN, I.; SILBERMAN, N. A. David and Solomon: In Search of the Bible’s Sacred Kings and the Roots of the Western Tradition. New York: The Free Press, 2007.
FREEDMAN, D. N. (ed.) The Anchor Bible Dictionary on CD-ROM. New York: Doubleday & Logos Library System, [1992], 1997.
FRITZ, V. ; DAVIES, P. R. (eds.) The Origins of the Ancient Israelite States. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996.
GEBRAN, Ph. (org.) Conceito de modo de produção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
GRABBE, L. L. Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know It? London: Bloomsbury T & T Clark, Revised Edition, 2017.
GRABBE, L. L. (ed.) Can a ‘History of Israel’ Be Written? London: Bloomsbury T & T Clark, 2005.
HAGELIA, H. The Dan Debate: The Tel Dan Inscription in Recent Research. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2009.
LEMCHE, N. P. The Israelites in History and Tradition. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 1998.
LIVERANI, M. Para além da Bíblia: História antiga de Israel. São Paulo: Loyola/Paulus, 2008.
MOREGENZTERN, I.; RAGOBERT, T. A Bíblia e seu tempo – um olhar arqueológico sobre o Antigo Testamento. 2 DVDs. Documentário baseado no livro The Bible Unearthed, de Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. São Paulo: História Viva – Duetto Editorial, 2007.
PIXLEY, J. A história de Israel a partir dos pobres. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
SCHWANTES, M. et al. Trabalhador e trabalho, Estudos Bíblicos, Petrópolis, n. 11, 1986.
VAN SETERS, J. The Pentateuch: A Social-Science Commentary. London: Bloomsbury T & T Clark, 2004.
ZABATIERO, J. P. T. Uma história cultural de Israel. São Paulo: Paulus, 2013.
>> Bibliografia atualizada em 04.08.2020
> Este artigo foi publicado em Estudos Bíblicos, Petrópolis, n. 78, p.18-31, 2003
1 . Cf. BRIGHT, J., História de Israel, São Paulo, Paulus, 1978, traduzido da segunda edição norte-americana de 1972.
2 . Sobre a ruptura do consenso e as várias etapas da pesquisa, convido o leitor a ler o artigo A História de Israel no Debate Atual, disponível na Ayrton’s Biblical Page.
3 . Cf. DAVIES, P. R., In Search of ‘Ancient Israel’, Sheffield, Sheffield Academic Press [1992], 1995. 2. ed. 2015. Uma resenha do livro pode ser lida em https://airtonjo.com/site1/resenha-1.htm.
4 . Cf. os escritos e as posições de Thompson, especialmente a sua feroz polêmica com o arqueólogo norte-americano William G. Dever, em https://airtonjo.com/site1/minimalistas-2.htm e em https://airtonjo.com/site1/historia-de-israel.htm.
5 . Cf. GRABBE, L. L. (ed.), Can a ‘History of Israel’ Be Written? Sheffield, Sheffield Academic Press, 1997 [2005], p. 188-196. Uma resenha deste livro pode ser lida em https://airtonjo.com/site1/resenha-2.htm. Para saber mais sobre o Seminário Europeu sobre Metodologia Histórica e sobre os ‘minimalistas’ ou Escola de Copenhague, cf. https://airtonjo.com/site1/minimalistas.htm.
6 . Cf. o texto de Herbert Niehr em GRABBE, L. L. (ed.), Can a ‘History of Israel’ Be Written? p. 156-165.
7 . Cf. de Niels Peter Lemche, The Israelites in History and Tradition, Louisville, Kentucky, Westminster John Knox, 1998, p. 38-43.
8 . Cf. BRIGHT, J., História de Israel, p. 145-146; DEVER, W. G., Archaeology and the Israelite “Conquest”, em FREEDMAN, D. N. (ed.), The Anchor Bible Dictionary on CD-ROM, New York, Doubleday & Logos Library System, 1992, 1997; LEMCHE, N. P., The Israelites in History and Tradition, p., 35-38. Cf. também https://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah_Stele.
9 . Cf. SCHÄFER-LICHTENBERGER, C., Sociological and Biblical Views of the Early State, em FRITZ, V. & DAVIES, P. R. (eds.), The Origins of the Ancient Israelite States, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1996, p. 78-105.
10 . Cf. FIORAVANTE, E., Do modo de produção asiático ao modo de produção capitalista, em GEBRAN, Ph. (org.), Conceito de modo de produção, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978, p. 131-155.
11 . Cf. LEMCHE, N. P., From Patronage Society to Patronage Society, em FRITZ, V. & DAVIES, P. R. (eds.), The Origins of the Ancient Israelite States, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1996, p. 106-120. Como parece ter ficado claro, toda a discussão sobre as origens dos Estados israelitas passa também pela discussão anterior sobre as origens de Israel, um pressuposto não discutido aqui, mas que pode ser visto em detalhes no artigo A História de Israel no Debate Atual.
12 . Cf., para o que se segue, Finkelstein, I. & Silberman, N. A., The Bible Unearthed. Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, New York, The Free Press, 2001, p. 123-145. Veja também a resenha do livro em https://airtonjo.com/site1/resenha-6.htm.
Última atualização: 12.07.2024 – 17h26
